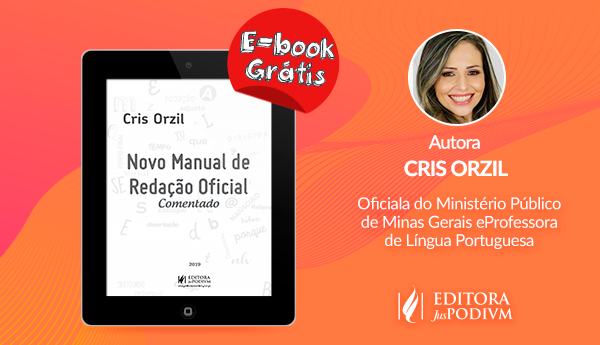Sumário • 1. Introdução; 2. Acesso à Justiça na perspectiva normativa; 2.1. Perspectiva Nacional; 2.2. Perspectiva Internacional; 2.2.1 Sistema Global de proteção de Direitos Humanos: A Convenção CEDAW e a Recomendação Geral nº 33 521; 3. Gênero e Raça: Compartilhando algumas vozes; 3.1 Percepções quanto ao Direito; Conclusão; Bibliografia.
1. INTRODUÇÃO
Inspirada no trabalho “Percepções das mulheres em relação ao Direito e à Justiça”, publicado em 1996, compartilhando os resultados de pesquisa realizada com mulheres das várias regiões do Brasil investigando sua avalição pessoal em relação ao Direito e a Justiça, esse artigo, através de enfoque diferenciado e mais estreito, tem objetivo análogo. Três mulheres negras da periferia de São Paulo compartilham parte da sua compreensão e experiência em relação ao universo jurídico.
Para fazer uma leitura crítica do acesso à justiça, a partir de um enfoque de raça e gênero, é importante analisar o direito a partir de “seu ângulo externo”, considerando a relevância da percepção das próprias mulheres negras em relação à legitimidade e eficácia do Direito. Um espaço de expressão das vozes das mulheres é muito importante, conforme nos aponta a feminista americana Patricia Hill Collins ao abordar autodefinição:
“A importância desses espaços seguros é que eles fornecem oportunidades para autodefinição; e autodefinição é o primeiro passo para o empoderamento: se um grupo não está se definindo, então está sendo definido por e para o uso de outros.”
Muito interessante observar que continua existindo, hoje, praticamente o mesmo deslocamento e distanciamento entre Direito e Realidade Social, apontados em 1996. Por um lado, para muitas mulheres a confiança no sistema judiciário é praticamente inexistente e a percepção de que determinados problemas jurídicos, como a violência doméstica, devem ser solucionados na esfera individual e privada é recorrente. Essa situação, infelizmente, gera consequências diárias no âmbito do exercício dos direitos mais básicos e fundamentais, impactando, de forma imediata, a realização do direito à cidadania. Por outro lado, também pode ser destacada uma percepção crítica em relação a histórica inferioridade da mulher no Brasil e grande inquietação com o estabelecimento de um caminho para formar meninas conscientes dessas discriminações e aptas a se posicionar como protagonistas das suas próprias histórias.
As Faculdades de Direito também deram um passo interessante ao introduzir em várias de suas disciplinas, além do tradicional estudo das leis, o aprofundamento e o debate sobre a jurisprudência. Este fato foi relevante para ultrapassar a visão positivista formalista do direito rumo a uma abordagem do direito vivo, dinâmico em sua relação com os fatos e os valores sociais. No entanto, a análise da jurisprudência é apenas um passo em direção à pesquisa do Direito enquanto experiência vivida pela sociedade. Outros avanços também podem ser constatados, como na área de estudo dos direitos das mulheres, com enfoque de gênero. A própria abordagem da criminologia crítica evoluiu a partir de uma perspectiva feminista:
“… a partir da década de 1980, o desenvolvimento feminista da Criminologia crítica marca a passagem para a Criminologia de correspondente nomenclatura, no âmbito da qual o sistema de justiça criminal receberá também uma interpretação macrossociológica no marco das categorias patriarcado e gênero, e a indagação sobre como o sistema de justiça criminal trata a mulher (a mulher como vítima e uma Vitimologia crítica) assume aqui um lugar central.”
Autoras como Vera de Andrade, Leila Linhares Barsted, Carmen Hein de Campos, Soraia da Rosa Mendes, dentre outras, merecem destaque pela abordagem feminista de temas tão importantes, como a violência de gênero contra as mulheres.
Outras disciplinas como o estudo do constitucionalismo regional transformador e da racionalidade da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ajudam a observar a situação dos direitos humanos das mulheres no país e também a identificar certas tendências de argumentação. Nesse sentido, tanto o sistema regional como o sistema global de direitos humanos trazem parâmetros de grande importância ao tema, alguns deles apontados neste artigo.
Nesse sentido, para além dos avanços teóricos e doutrinários, é necessário ressaltar que no âmbito legislativo, a Constituição de 1988, apesar de promover a igualdade formal entre homens e mulheres, não garantiu a eficácia prática de certos direitos. Prevalece, portanto, um contexto de desigualdade, inclusive, e principalmente, no que diz respeito ao exercício efetivo de direitos por parte da população negra no Brasil. Há fortes razões históricas para tal. Essa ausência de políticas públicas e de vontade política em viabilizar oportunidades de integração é pouco debatida e geralmente invisibilizada.
No que diz respeito, em especial às mulheres negras, nas palavras de Kimberlé Crenshaw é fundamental observar o entrecruzamento entre raça, gênero e classe para compreender que essa desigualdade é estrutural:
“(…) a interseccionalidade molda as experiências de muitas mulheres negras. Considerações econômicas – acesso ao emprego, moradia e riqueza – confirmam que as estruturas desempenham um papel importante na definição da experiência das mulheres de cor em relação ao espancamento. Mas seria um erro concluir destas observações que é simplesmente o fato da pobreza que está em questão aqui. Em vez disso, suas experiências revelam como estruturas diversas se cruzam, uma vez que a dimensão de classe não é independente de raça e gênero.”
Os dados históricos de opressão da mulher negra apontam estruturas racistas, patriarcais e sexistas que tiveram caráter determinante na construção da configuração social do nosso país. A escravidão que compôs a sociedade brasileira – e que ainda tem reflexos vivos nos dias atuais – é uma das razões que contribuem para o contraste nos dados de violência e discriminação. A tragédia desse fenômeno afetou toda população negra. Mulheres negras desempenhavam trabalhos de força física igual ou semelhante aos dos homens negros, equiparando-se a eles em surras e castigos. Além da exploração do trabalho escravo, a objetificação da mulher se fazia presente junto a múltiplas violências como o estupro, acompanhadas de humilhação e privações de todos os tipos, inclusive durante a gravidez e lactação de filhos. Angela Davis, hoje, com várias de suas obras traduzidas em nosso país, é enfática:
“O sistema escravista definia o povo negro como propriedade. Já que as mulheres eram vistas, não menos do que os homens, como unidades de trabalho lucrativas, para os proprietários de escravos elas poderiam ser desprovidas de gênero.”
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) também nos aponta a perspectiva histórica dessa exclusão que é baseada na origem étnico-racial desses grupos:
“A discriminação histórica e a concentração da riqueza resultaram na exclusão histórica de certos grupos da população como pessoas de afrodescendentes, povos indígenas e trabalhadores rurais, que permanecem em situação de extrema vulnerabilidade ao longo dos anos. Essa situação de vulnerabilidade é baseada na origem étnico-racial desses grupos, e se agrava quando coincide com a situação de pobreza e de rua.”
Deste modo, é importante esclarecer que a miscigenação de grande parte da população brasileira, oriunda de um contexto de violência sexual sofrida pelas mulheres negras, dentro do sistema escravista, mascara graves cicatrizes que permeiam a nossa sociedade. Sueli Carneiro aponta que “o estupro colonial da mulher negra pelo homem branco no passado e a miscigenação dai decorrente criaram as bases para a fundação do mito da cordialidade e democracia racial brasileira”, o qual ainda não foi superado, impedindo a questão de ser abordada com a devida profundidade. Segundo o Atlas da Violência 2017: A população negra corresponde a maioria dos indivíduos com mais chances de serem vítimas de homicídios. A cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras.
Todos esses aspectos convergem para a permanência da imensa desigualdade racial. Nesse sentido, inúmeras pesquisas sobre as condições de vida dos negros, e especificamente das mulheres negras no país, hoje, confirmam as grandes distâncias que ainda existem em nossa sociedade. As desigualdades existentes nos mais diversos campos – educação, renda, saúde, acesso a bens e a crédito, propriedade imobiliária, inclusão digital, vitimização por agressão física, etc – revelam um problema estrutural complexo que permeia as relações familiares, profissionais, institucionais, acadêmicas e jurídicas.
No que tange especificamente a mulher negra, por exemplo, entre 2003 e 2013, enquanto houve uma queda de 9,8% no total de feminicídios de mulheres brancas, houve um aumento de 54,2% no número de feminicídios de mulheres negras. Assim, a despeito de certos avanços legislativos no âmbito da igualdade de gênero, como a Lei Maria da Penha, promulgada em 2006, dados como esse, sobre o aumento gigantesco no número de feminicídios de mulheres negras, nos alertam para a persistência e/ou aprofundamento de graves desigualdades, principalmente na perspectiva interseccional.
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos demonstra essa desigualdade estrutural em números:
“A concentração da violência baseada em áreas marcadas pela pobreza, assim como o uso de perfis raciais resultam em que as pessoas afrodescendentes, especialmente os jovens afrodescendentes, constituam o perfil mais frequente de vítimas de homicídio no Brasil e as principais vítimas da ação letal da polícia e o perfil populacional mais predominante nas prisões. Segundo dados publicados no Atlas da Violência de 2018, a taxa de homicídios de afrodescendentes em 2016 foi duas vezes e meia maior que a de pessoas de descendência não africana (40,2% e 16%, respectivamente). Em um período de uma década, entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios para afrodescendentes aumentou 23,1%. No mesmo período, a taxa entre os não-afrodescendentes teve redução de 6,8%. A Comissão também considera importante destacar que a taxa de homicídios de mulheres afrodescendentes foi, nesse período, 71% maior que a de mulheres não afrodescendentes, refletindo a dupla vulnerabilidade enfrentada pelas mulheres afrodescendentes, tanto pelo seu gênero quanto pela sua origem étnico-racial”
No que diz respeito a cumulatividade de outros fatores de exclusão social não podemos deixar de destacar a relação entre raça e concentração de renda. Segundo o IBGE, a diferença salarial média entre homens e mulheres em geral é de cerca de 30%, enquanto a mesma diferença entre uma mulher negra e um homem branco é de 60% podendo chegar a 80% em alguns cargos. Segundo a CIDH:
“A normalização das enormes diferenças salariais e alta concentração dos meios de produção são características distintivas da sociedade brasileira desde a formação do seu modelo produtivo, de origem agrícola e baseado principalmente na monocultura de grandes extensões de terra, que também se caracterizou pelo trabalho escravo, exploração e baixo custo da mão de obra de afrodescendentes. Além do exposto, há também evidências de limites históricos nas políticas de reforma agrária que permitam que setores da população rural tenham acesso a terras produtivas”.
Além disso, a análise da interseccionalidade de gênero, raça e renda representa um fator negativo que torna ainda mais difícil o acesso à justiça, por várias razões como: falta de informação e/ou alfabetização jurídica, difícil acesso aos órgãos judiciais. São grandes as omissões por parte do Estado relacionadas a: dificuldade para processar e punir os perpetradores e/ou prover remédios, falha em agir com a devida diligência para investigar; casos de racismo institucional; impacto de estereótipos relacionados a raça, gênero e classe em decisões jurídicas; violações de direitos por autoridades, inclusive por agentes encarregados de fazer cumprir a lei, dentre outros.
A CIDH reconhece a existência desses obstáculos e delimita o papel do Sistema Interamericano de Direitos Humanos de delinear princípios e normas sobre o alcance do direito de acesso à justiça, nos casos que envolvem a violação de direitos econômicos, sociais e culturais (DESCs):
“Um primeiro aspecto do direito de acesso à justiça na área dos direitos sociais é a existência de obstáculos econômicos ou financeiros no acesso aos tribunais e o alcance da obrigação positiva do Estado de eliminar esses obstáculos a fim de garantir o direito efetivo de ouvido por um tribunal. Desta forma, numerosas questões relacionadas ao acesso efetivo à justiça – tais como a disponibilidade de defesa pública gratuita para pessoas sem recursos e os custos do processo – são questões de inestimável valor instrumental para a aplicabilidade dos direitos econômicos, social e cultural Nesse sentido, é comum que a situação econômica ou social desigual dos litigantes se reflita em uma possibilidade desigual de defesa em juízo.”
Em meio a tantos desafios, desponta o debate sobre a própria existência de uma seletividade penal em nosso sistema jurídico. Nessa ceara, um dado alarmente que não pode ser ignorado é o fato de que “o Brasil é o 4º país que mais prende mulheres, sendo que 62% delas são negras.”
Por fim, outro fator que reforça esse cenário de discriminação, é a própria desigualdade existente dentro do nosso sistema de justiça. Segundo pesquisa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ-2014), as mulheres negras são parte minoritária na composição do Judiciário brasileiro (5,1%) ainda que sejam as principais vítimas de violência no Brasil. Essa conjuntura já vem sendo debatida dentro do CNJ. Vale ressaltar, inclusive, a recente realização de audiência pública – em 10 de junho de 2019 – para discutir a revisão das regras relativas ao concurso da magistratura, na qual um dos aspectos apontados foi a necessidade de aumentar a representatividade na carreira.
Todas essas evidências da desigualdade predominante na intersecção entre gênero e raça no âmbito do acesso à justiça, destacam a relevância da reflexão proposta por esse artigo. Nas palavras de Djamila Ribeiro “pensar como as opressões se combinam e entrecruzam, gerando outras formas de opressão, é fundamental para se pensar outras possibilidades de existência”. De fato, precisamos refletir sobre como criar políticas públicas eficazes para ampliar o acesso à justiça da população negra em geral, mas particularmente das mulheres negras de baixa renda que vivem na periferia de grandes centros urbanos, pelo contexto estrutural de discriminação identificado, conforme reforça a Comissão Interamericana de Direitos Humanos:
Na opinião da CIDH, a discriminação estrutural ou sistêmica se manifesta por meio de comportamentos discriminatórios em detrimento de pessoas em função de sua afiliação a grupos historicamente e sistematicamente discriminados tanto pelas instituições e quanto pela sociedade. Isso se reflete em normas, regras, rotinas, padrões, atitudes e padrões de comportamento, tanto de jure como de facto, que geram uma situação de inferioridade e exclusão contra um grupo de pessoas de forma generalizada, que são perpetuadas ao longo tempo e até por gerações, ou seja, não são casos isolados ou esporádicos, mas sim uma discriminação que surge como consequência de um contexto histórico, socioeconômico e cultural.
Ao compartilhar trechos de entrevistas realizadas com três mulheres negras da periferia de São Paulo sobre suas experiências em relação ao acesso à justiça, queremos dar voz para as inquietações e percepções dessas mulheres.
No campo da análise sociojurídica de gênero, a finalidade de desvelar essas histórias é visibilizar aspectos relevantes das suas vivências, expectativas, frustrações e propor uma refexão sobre o tema. Hannah Arendt nos provoca a refletir, a usar o pensamento, nos lembrando:
“(…) que a inabilidade de pensar não é uma imperfeição daqueles a quem falta a inteligência, mas uma possibilidade sempre para todos nós (incluindo cientistas e eruditos). (…) O pensamento em seu sentido não-
-cognitivo como uma necessidade não natural da vida humana, como a realização da diferença dada na consciência não é uma prerrogativa de poucos, mas uma faculdade presente em todo mundo.”
Em termos metodológicos, foram realizadas entrevistas semi-
-estruturadas, com três mulheres negras de três regiões periféricas de São Paulo. A maioria das questões selecionadas foram extraídas de formulário bem mais amplo, previamente elaborado por Silvia Pimentel e Valéria Pandjiarjian, e publicado no livro “Percepções das mulheres em relação ao Direito e à Justiça”, de 1996, buscando contextualizá-las com questões do contexto sociojurídico atual, 2019.
Por fim, o compartilhamento desses relatos pretende contribuir com uma visão interseccional para o tema da efetividade do acesso das mulheres à justiça. Essas histórias precisam reverberar para que o Direito desempenhe seu caráter emancipatório:
“(…) que se amplie a compreensão do direito como princípio e instrumento universal da transformação social politicamente legitimada, dando atenção para o que tenho vindo a designar legalidade cosmopolita ou subalterma. Noutras palavras, deve-se deslocar o olhar para a prática de grupos e classes socialmente oprimidas que, lutando contra a opressão, a exclusão, a discriminação, (…), recorrem a diferentes formas de direito como instrumento de oposição. À medida que recorrem a lutas jurídicas, a atuação destes grupos tem devolvido ao direito o seu caráter insurgente e emancipatório.”
2. ACESSO À JUSTIÇA NA PERSPECTIVA NORMATIVA
Uma vez explicitadas certas ideias relevantes para entender a amplitude do direito de acesso à justiça, a partir de uma análise interseccional de raça e gênero, é importante investigar a perspectiva normativa deste direito.
2.1. Perspectiva Nacional
O acesso à justiça está garantido no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal brasileira (CF), já a justiça, enquanto baluarte, é apresentada em nosso preâmbulo como um dos valores supremos da sociedade. Ademais, no que tange o exercício do acesso à justiça a CF elenca no rol do artigo 5º, em seu inciso LXXIV a garantia de assistência judiciária gratuita, instrumento essencial a realização da justiça por parte daqueles que não tem recursos para pagar por um advogado.
Por outro lado, para além do valor constitucional e reconhecimento pacífico deste direito, no âmbito brasileiro merece especial destaque as Regras de Brasília relativas ao acesso à justiça das pessoas que se encontram em condição de vulnerabilidade, documento elaborado durante a XIV Conferência Judicial Ibero-americana, em 2008, com o objetivo de influenciar a agenda de atuação “dos distintos programas e projetos de modernização do sistema judicial”.
Alinhado com o discurso deste artigo este documento afirma: “pouca utilidade tem que o Estado reconheça formalmente um direito se o seu titular não pode aceder de forma efetiva ao sistema de justiça para obter a tutela do dito direito”.
Assim sendo, as regras de Brasília elencam dentro do seu rol de beneficiários, ou seja, dentro do conceito de vulnerabilidade, a distinção de gênero, dedicando o item 8 para traçar estratégias específicas que podem ajudar na construção de melhorias para o acesso das mulheres à justiça.
Ainda, no que tange o destaque a capacitação legal, também é elencado de forma explícita a necessidade de promover “a cultura ou alfabetização jurídica das pessoas em situação de pobreza, assim como as condições para melhorar o seu efetivo acesso ao sistema de justiça.”
2.2. Perspectiva Internacional
No âmbito internacional, o acesso à justiça está garantido, com maior ou menor ênfase, através de uma série de instrumentos de proteção regional e global de direitos humanos (Declarações, Convenções e Carta de Direitos). Com o objetivo de demarcar essa esfera, destaca-se:
i) Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH – 1948), inciso VII.
ii) Convenção Europeia dos Direitos do Homem, artigo 6°.
iii) A Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos – São José da Costa Rica (1969), artigo 8°, § 1º31 e seu Protocolo.
iv) A Declaração e Programa de Ação da 2ª Conferência Internacional de Direitos Humanos (Viena, 1993), em seu parágrafo 32
v) A Declaração e Plano de Ação de Durban (2001), parágrafo 33
vi) A Carta de Direitos das Pessoas perante a Justiça no Espaço Judicial Ibero americano, 200234.
Ainda sobre a garantia de acesso à justiça, mas com ênfase na perspectiva de gênero:
vii) A Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW – ONU, 1979), artigo 15, 235.
viii) A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção Belém do Pará, 1994), artigo 4, 736 e artigo 8, 537.
ix) Recomendação Geral (RG) nº 28 do Comitê CEDAW – ONU, 2015, em sua íntegra.
x) Recomendação Geral (RG) nº 33 do Comitê CEDAW – ONU, 2015, em sua íntegra.
Dentre todo aparato apresentado merece particular atenção a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção Belém do Pará, 1994), instrumento do sistema regional (interamericano) de direitos humanos, ratificado pelo Estado brasileiro, e a Convenção CEDAW, instrumento de proteção do sistema global de direitos humanos.
Deste modo, para avançar nesse debate e conhecer com mais profundidade o tema iremos examinar a atuação do Comitê CEDAW da ONU, sua Convenção e a produção de Recomendações Gerais.2.2.
2.2.1 Sistema Global de proteção de Direitos Humanos: A Convenção CEDAW e a Recomendação Geral nº 33
Previamente a um maior detalhamento sobre a Recomendação Geral nº 33 é necessário localizar a atuação do Comitê CEDAW no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), a qual atua através de cinco principais pilares: manutenção da paz e segurança internacionais, proteção dos direitos humanos, entrega de ajuda humanitária, promoção do desenvolvimento sustentável e defesa do direito internacional. Nesse sentido, no que tange o segundo pilar a ONU apresenta 10 órgãos referentes aos principais tratados de direitos humanos – treaty-based bodies – que monitoram a sua implementação.
Dentre eles, podemos destacar a atuação do Comitê pela Eliminação da Discriminação contra a mulher, da sigla em inglês CEDAW, relativo a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher.
Esta Convenção foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, em 18 de dezembro de 1979, entrando em vigor quase dois anos depois, especificamente em 3 de setembro de 1981, registrando nesse momento 20 países signatários. A adoção desse documento deve ser reconhecida como resultado de anos de esforços internacionais.
Em retrospectiva, reforçamos o papel da Comissão sobre a Situação da Mulher, órgão anterior ao CEDAW, estabelecido dentro do sistema das Nações Unidas pelo ECOSOC (Conselho Econômico e Social da ONU), em 1946, com as seguintes responsabilidades: preparação de relatórios e recomendações sobre a promoção dos direitos das mulheres nas áreas política, econômica, civil, social e educacional. Formulação de recomendações sobre problemáticas correlatas de caráter urgente; e a missão de acompanhar a implementação do Plano de Ação de Beijing (Adotada pela Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres: Ação para Igualdade, Desenvolvimento e Paz).
Composta por 45 membros eleitos pelo ECOSOC por um período de 4 (quatro) anos. Esse órgão teve uma atuação ímpar ao focar na proteção das mulheres em condição especial de vulnerabilidade, por exemplo, ao preparar em 13 anos (entre 1949 e 1962): uma série de tratados, tal como: a Convenção dos Direitos Políticos das Mulheres (1952); a Convenção sobre a Nacionalidade de Mulheres Casadas (1957); e a Convenção sobre o Casamento por Consenso, Idade Mínima para Casamento e Registro de Casamentos (1962). Além da preparação em 1965, da Declaração sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, de força moral e política.
Uma década depois da criação da Convenção CEDAW, quase cem nações já haviam concordado em se vincular a essa norma. A Convenção, enquanto documento fulcral e abrangente sobre o tema, é o marco do trabalho de mais de trinta anos da Comissão das Nações Unidas sobre o Status das Mulheres, órgão criado em 1946. Ademais, a Convenção também representa o resultado concreto da reivindicação do movimento organizado de mulheres, responsável pela organização da primeira Conferência Mundial sobre a Mulher, em 1975, no México.
No que diz respeito a atuação do Comitê, ele é formado por um corpo de especialistas independentes (no caso por 23 experts em direitos das mulheres de todo o mundo) que monitora a implementação da Convenção em relação aos países signatários desse tratado. Esses países, conhecidos como Estados Partes, são obrigados a apresentar relatórios regulares ao Comitê sobre como os direitos da Convenção estão sendo implementados. Durante cada sessão, o Comitê avalia o relatório submetido pelo Estado Parte e endereça suas preocupações e recomendações na forma de observações conclusivas (“as COs”: concluding observations). Paralelamente a essa atualização individualizada por país, o Comitê também elabora recomendações gerais dirigidas aos Estados acerca de artigos e/ou temas correlatos a Convenção.
As Recomendações Gerais apresentam um papel de extrema relevância na medida em que orientam aos Estados partes tanto sobre a interpretação dos artigos da Convenção, como apoiam os países signatários a tomar medidas práticas para avançar a agenda de promoção dos direitos das mulheres, tanto na perspectiva legislativa, como na estruturação de uma agenda política de trabalho, incluindo destinação orçamentária.
Aqui, conforme mencionado anteriormente, tem grande valor a Recomendação Geral No 33 sobre o acesso das mulheres à justiça, publicada em agosto de 2015, depois de quatro anos de trabalho. A Recomendação é exaustiva em abordar os diversos obstáculos enfrentados pelas mulheres na busca de concretizar direitos e traz, sem dúvida, enorme contribuição a temática desta escrita, representando, inclusive, fonte de inspiração para a escolha do tema. Além disso, por ser, um documento criado a partir da experiência prática do Comitê ao examinar a experiência dos Estados-parte é um testemunho de necessidades reais e prioritárias do assunto.
A Recomendação Geral 33, em sua amplitude, apresenta o acesso à justiça a partir de “seis componentes inter-relacionados e essenciais”, quais sejam a justiciabilidade, disponibilidade, acessibilidade, boa qualidade, provisão de remédios para as vítimas e prestação de contas dos sistemas de justiça. O trabalho do Comitê em destrinchar o tema é muito interessante justamente por dar conta da complexidade e leque de atributos do acesso à justiça. Essa estruturação alerta o Poder Público a considerar a especificidade de cada um dos seis aspectos que compõe esse direito, o que auxilia o desenvolvimento de políticas públicas mais completas.
A título informativo a estrutura do documento é construída a partir da seguinte lógica: (i) Introdução e âmbito; (ii) Questões gerais e recomendações sobre o acesso das mulheres à justiça; (iii) Recomendações para áreas específicas do direito – quais sejam: Direito constitucional; Direito civil; Direito de família; Direito penal; Direito administrativo, social e trabalhista; Recomendações para mecanismos específicos –; (iv) Recomendações para áreas específicas do direito.
Dentro do item (ii) “Questões gerais e recomendações sobre o acesso das mulheres à justiça”: além de apresentar os (a) seis componentes da justiça mencionados anteriormente, também são destacadas seções específicas para abordar sobre: (b) leis, procedimentos e práticas discriminatórias; (c) estereótipos e preconceitos de gênero no sistema de justiça e a importância da capacitação; (d) educação e conscientização sobre o impacto dos estereótipos; (e) assistência jurídica e defensoria pública; (f) recursos.
3. GÊNERO E RAÇA: COMPARTILHANDO ALGUMAS VOZES
- Percepções quanto ao Direito
As três mulheres entrevistadas atentaram para a grande importância do Direito enquanto um conjunto de leis que organiza a sociedade, de forma que nenhuma delas negou sua relevância enquanto sistema positivo e formal. Por outro lado, as três afirmaram que esse serviço de orientação e prestação de garantias de direitos, fornecido pelo Governo, é um serviço muito distante da população.
Indagadas sobre a primeira idéia que lhes vêm a cabeça quando ouvem a palavra Direito, responderam: “Para todo mundo. Humm… O direito me choca por causa do esquerdo. Sempre tem o certo e o errado. O direito e esquerdo, me pergunto como fica o que é avesso? E no caso do direito, o esquerdo é o pobre. O direito rouba o pobre.”(E1). “É difícil. Vem várias questões. Temos direitos mas muitas vezes eles não nos alcançam.”(E2). “Escuto direito, escuto justiça.”(E3).
As respostas das entrevistadas, dentro dos seus contextos de vida apontam: No primeiro caso para uma percepção crítica e poética da relação complexa entre direito e pobreza, indicando a indignação pelo direito não alçancar e/ou prejudicar os mais pobres. Sua percepção está alinhada ao conceito de Pachukanis, que apresenta o Direito através da sua especificidade burguesa, e portanto, na contramão da inclusão das classes menos favorecidas. No segundo relato, a entrevistada apresenta a amplitude do conceito de Direito, que trás tantas questões a mente, reforçando seu senso de insatisfação com o alcance que os direitos têm na prática. Ela questiona o distanciamento entre “ser” e “dever ser”. Por fim, o terceiro depoimento apresenta o direito enquanto sinônimo de justiça, equivalência atrelada a um conceito universal e idealizado de justiça.
A tentativa de desvendar o conceito “justiça” é uma tarefa que tem sido amplamente trabalhada por teóricos de diferentes períodos históricos, com ideologias e recortes diversos. Amartya Sen trás uma conceituação interessante sobre esse aspecto:
“(…) uma importante distinção entre dois conceitos de justiça encontrada na antiga ciência do direito indiana: niti e nyaya. A primeira ideia, niti, diz respeito tanto à adequação organizacional quanto à correção comportamental, enquanto a última, nyaya, diz respeito ao que resulta e ao modo como emerge, em especial, a vida que as pessoas são realmente capazes de levar. A distinção (…) ajuda-nos a ver com clareza que há dois tipos bastante diferentes, embora relacionados, de justiça que devem ser satisfeitos pela ideia de justiça”.
- Constituição Federal
Sobre a Constituição Federal do Brasil, apesar de sua relevância jurídica, fica claro que não é conhecida com exatidão pelas entrevistadas, ainda que a ideia da palavra tenha aparecido dentro de um contexto legal. Sua data de promulgação também se revelou como desconhecida por duas das entrevistadas, o que reforça o distanciamento desse instrumento jurídico em relação a essas mulheres.
As mulheres foram indagadas sobre “qual a primeira idéia que lhes vêm a cabeça quando vocês ouvem a palavra Constituição?”, ao que responderam: “Uma coisa que deveria ser a principal matéria do ensino. Tudo deveria convergir para esse livrinho aí. Esse e o ECA. Estudamos outras coisas e depois a pessoa não tem estrutura para executar o que está na teoria.”(E1). “Eu vejo algo que não devia ser flexível, mas que as pessoas estão mudando a seu favor. As pessoas mudam a Constituição para receber benefícios só para elas”(E2). “Direito de todos. Acredito que seja algo a ser cumprido”(E3).
A primeira resposta demonstra um conhecimento sobre o papel da Constituição e sua relevância para o empoderamento não só de mulheres, mas de toda uma sociedade. Além disso, a entrevistada reforça sua familiaridade com a Constituição Federal ao usar a palavra “livrinho” e sua preocupação com a alfabetização jurídica das meninas. A segunda resposta demonstra certa incompreensão do que é a Constituição Federal brasileira, enquanto aparato legal de difícil emenda, no entanto, revela a falta de confiança no sistema jurídico, como algo que pode ser modificado para beneficiar grupos e/ou pessoas. Por fim, a terceira observação, demonstra o entendimento/desejo da entrevistada de que a Constituição Federal alcance a todos, revelando sua expectativa de que a lei seja cumprida.
Em seguida, quando as entrevistadas foram questionadas se através da Constituição Federal de 1988 a mulher passou, ou não, a ter mais direitos, cada entrevistada expressou uma opinião diversa: Uma afirmou que sim (com a Constituição a mulher passou a ter o direito de votar, de usar calça, de trabalhar registrada), outra afirmou que não e, a terceira, afirmou que, a mulher passou a ter mais direitos mas é algo mínimo. Essa falta de concordância nas respostas, demonstra a falta de conscientização histórica sobre as transformações legislativas e os avanços alcançados pelo movimento de mulheres. Ademais, a própria mídia fala pouco sobre o sistema legislativo e sobre a nossa Carta Magna, enquanto lei mais importante do país.
Quando questionadas se a nossa atual Constituição dá a mulher e ao homem igual direitos, duas das entrevistadas responderam que não. Registra-se nesse ponto um fenômeno destacado no livro de 1966: “ao constatarem a defasagem existente entre o Direito e suas vidas, muitas o conceberam como um não-direito”.
- Violência de gênero contra a mulher
As raízes estruturais e estruturantes da violência de gênero contra a mulher apontam a complexidade desse fenômeno que, de acordo com a Convenção de Belém do Pará, exige medidas para prevenir a violência contra a mulher.
Considerando a extensão do fenômeno da “violência baseada no gênero contras as mulheres”, a Recomendação 35 do Comitê pela Eliminação da Discriminação contra a mulher (CEDAW/ONU), reforça o uso dessa expressão como um termo mais preciso que explicita as causas e impactos de gênero da violência. A expressão fortalece ainda mais a compreensão dessa violência como um problema social – e não individual –, exigindo respostas abrangentes, além de eventos específicos, perpetradores individuais e vítimas / sobrevivente
(a) Estupro
Segundo dados de 2015 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Outros números assustadores mostram, ainda, que 42% dos homens acham que a violência sexual acontece porque a vítima não se dá ao respeito ou usa roupas provocativas, e cerca de 32% das mulheres entrevistadas concordaram.41 Esses dados revelam a cultura de culpabilização da vítima e indicam a importância dos processos educativos e de conscientização.
Ao questionar as três mulheres entrevistdas sobre o que entendem por estupro obtivemos as seguintes respostas: “Estupro é uma coisa horrosa. Eu não sei qual o ímpeto. Mas eu sei o que é”(E1). “Qualquer ato que não seja conscentido”(E2). “O estupro vem depois do não.”(E3).
Em seguida, questionadas se é possível uma mulher ser estuprada pelo próprio marido ou companheiro, todas responderam afirmativamente, o que indica a compreensão ampla tanto do conscentimento (para além da indiferença e do silêncio), como também do papel/obrigações da mulher casada. O papel da mulher no âmbito do público e do privado foi construído historicamente, no imaginário de muitos homens e mulheres, a partir da nossa cultura machista.
Por fim, ainda sobre essa temática, as mulheres foram indagadas se na opinião delas, o estupro de filhos e filhas por pais ou familiares é muito comum, comum, pouco comum ou se não acontece. Duas das entrevistadas responderam “muito comum”, enquanto uma delas respondeu: “comum”, o que indica uma percepção consciente sobre essa tema, ainda tratado como um tabu no Brasil.
(b) Violência doméstica
A violência doméstica é uma das formas mais pulverizadas da violência contra a mulher, se manifestando através de múltiplas formas de violência, como a física, psicológica, moral, simbólica, etc. As entrevistadas foram indagadas sobre qual a primeira idéia que lhes vêm à cabeça quando você pensa em violência doméstica? “Nossa! Coisa de louco. Minha mãe apanhava do meu pai e eu bati nele três vezes. Eu faço terapia até hoje por isso”(E1). “Desde não ter espaço para ser quem sou”(E2). “O abuso começa no servir. O homem gritando o que quer comer. Começa ai o abuso e lembro disso com meu tio gritando para minha tia.” (E3)
As respostas trazem uma sensilidade grande em relação ao tema. De um lado a violência é apontada como algo muito próximo, que está no seio da família e no dia à dia, por outro lado, é percebido como muito mais do que a agressão física, se manifestando nas relações de poder, tomada de decisão e forma de agir e comunicar.
As três entrevistadas afirmaram conhecer pessoalmente alguém que já sofreu violência doméstica, mas também disseram que as vítimas dessa violência doméstica não procuraram ajuda da lei. Mas ao serem questionadas se fossem vítimas de violência doméstica, se procurariam ou não ajuda da lei, as três afirmaram que procurariam ajuda imediatamente.
Em seguida, lhes foi questionado onde as entrevistadas iriam buscar ajuda: “Em primeiro lugar em um grupo de apoio na internet. A mulher não conta rápido, então pedir ajuda de outra mulher é essencial. Grupos de amigas ou acolhimento”(E1). “Centro de Cidadania da Mulher” (E2). “Grupo de mulheres. (…) Mas no meu caso, fui na delegacia e tive uma péssima experiência”(E3).
Interessante perceber que as três mulheres mencionaram espaços de apoio não jurídicos e que somente uma delas mencionou a delegacia como um local onde foi buscar ajuda, com o comentário adicional de que não teria sido adequado o seu acolhimento.
(c) Lei Maria da Penha
A Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, é muito emblemática, no tema da violência de gênero contra a mulher, a começar pelo histórico que levou ao processo de sua aprovação, resultado da incidência do movimento de mulheres, em relação ao caso da Sr.ª Maria da Penha, após uma série de tentativas de homicídio pelo seu marido. A Convenção Belém do Pará, sustentou a argumentação jurídica, que levou o caso a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A lei é conhecida mundialmente pela sua perspectiva inovadora, principalmente, na perspectiva de prevenção à violência contra a mulher, para além da punição e reparação.
Não sabemos dizer se as mulheres conhecem o detalhamento da lei e a extensão da sua proteção, mas o nome da lei, sem dúvida, ficou bastante conhecido em todo Brasil, por isso, ao perguntar às três entrevistadas se conheciam a Lei Maria da Penha, as três responderam afirmativamente. Em seguida, foram indagadas sobre o contetxo no qual escutaram falar da lei: “Sempre escutei falar porque as amigas apanham”(E1). “Vagamente. Se a mulher denunciar o homem seria preso. Mas sabemos que não acontece”(E2). “Passei por um processo de violência doméstica. Conhecia a lei e tentei colocar em prática”(E3).
- Discriminação
Foram realizadas duas perguntas para as entrevistadas em relação às suas percepções sobre o posicionamento e poder dos homens e das mulheres em nossa sociedade. A primeira pergunta foi: “entre um homem e uma mulher, de quem é, normalmente, a última decisão?”, ao que as três entrevistadas respoderam “só dele”.
O segundo questionamento foi: Entre um homem e uma mulher, igualmente competentes, quem teria maior chance de conseguir um emprego ou de ser promovido, o homem ou a mulher? Porque? Ao que as três afirmaram ser o homem aquele com mais chances de promoção. “Porque ele é homem...”(E1). “Porque todo ambiente que vamos é bem machista e sempre usam questões que ao ver deles podem desfavorecer a mulher (maternidade e TPM)”(E2). “Homem é visto como uma figura de autoridade” (E3). Essas três falas uníssonas reforçam a existência de aspectos discriminatórios que ainda estão no imaginário da população e que indicam, por um lado, uma descrença em uma evolução rápida na igualdade de gênero e, por outro, uma consciência sobre os esteriótipos e discriminações existentes.
Em seguida, alterando a perspectiva de análise para a vivência pessoal de discriminação das próprias entrevistadas, perguntamos as mulheres se elas já tinham se sentido discriminadas por serem mulheres. As três responderam enfaticamente que sim. Em seguida, ao pedirmos para detalharem o local da agressão foram citados três situações distintas. A discriminação contra a mulher está presente no ambiente privado e no público, no mercado de trabalho e no lazer com os amigos, na relação com familiares e com desconhecidos: “Já me senti discriminada porque jogava futebol de salão até as 17 anos. Os meninos não aceitavam que eu jogasse bola na quebrada”(E1). “Em questão de vaga da emprego na área de tecnologia”(E2). “Sim, muitas vezes. O último emprego que tive era uma empresa pequena. Eles tinham processo de fraude e era muito ruim. Tentei melhorar o processo para agilizar o processo mas ninguém me escutava. O Bruno entrou um pouco antes de mim e foi promovido mesmo sem saber do processo. Subiu duas vezes em dois anos. Trabalhei por 8 anos nessa área”(E3).
Por fim, as mulheres foram questionadas se já se sentiram discriminads por outra razão que não seja a de ser mulher. As três indicaram a questão racial como forte elemento de discriminação: “Me sinto discriminada por ser negra”(E1). “Já me senti discriminada por questão racial”(E2). “Sim. Ser mulher negra é muito pior. Sempre sou discriminada. Muita gente não entende e não acredita que sou a dona do meu negócio. (…) Ser mulher e precisar de ajuda é pior ainda”(E3).
CONCLUSÃO
No fechamento das três entrevistas, perguntei: “Você gostaria de declarar mais alguma coisa sobre os direitos das mulheres em nosso país?”: “Não tenho problema em brigar pelo direito das mulheres, mas preciso saber onde estão os breques. Onde leio sobre isso?”(E1). “O direito não alcança as mulheres da periferia: Ao meu ver precisamos de mais informação na periferia. Casos extremos acontecem aqui e não sabemos como lidar. Violência doméstica por aqui é algo bem comum. Levando muitas vezes a morte. As mulheres não sabem a quem recorrer por medo e falta de informação”(E2). “Precisamos de algo mais efetivo. De fácil acesso. Se existe e não é compartilhado e não é eficaz não adianta existir”(E3).
A riqueza dessas falas, reforça a importância do direito sair das Universidades, dos Tribunais, das leis e das Convenções e chegar nas ruas, onde a problemática emerge e onde a efetividade urge.
Nas palavras de Boaventura Souza dos Santos: “O acesso à justiça é uma janela analítica privilegiada para se discutir a reinvenção das bases teóricas, práticas e políticas de um repensar radical do direito”. Parafraseando o autor, podemos afirmar que o acesso à justiça das mulheres periféricas negras é uma janela analítica privilegiada e prioritária para se discutir a reinvenção das bases teóricas, práticas e políticas de um repensar radical e emancipador do direito. Esse artigo é um convite para essa reflexão relevante e urgente.
BIBLIOGRAFIA
ADORNO, Sérgio. Racismo, criminalidade violenta e justiça penal: réus brancos e negros em perspectiva comparativa. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n.18, 1996.
ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A soberania patriarcal: o sistema de justiça criminal no tratamento da violência sexual contra a mulher. Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos, Florianópolis, p. 71-102, jan. 2005. ISSN 2177-7055
ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Tradução Roberto Raposo. São Paulo: Cia. Das Letras, 2004.
BARROSO, Luís Roberto. Justiça, Empoderamento jurídico e direitos fundamentais, Revista Direito GV, São Paulo 11(2), P. 407-428, jul-dez 2015.
CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução: Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1988.
CRENSHAW, Kimberlé Williams. Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color.
CARNEIRO, Sueli. Gênero, raça e ascenção social. Ano. 3 1995. COLLINS, Patricia Hill. Intersecting Oppressions.
Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a mulher, 1979.
Convenção Interamericana de Direitos Humanos, 1969.
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, 1994.
Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O acesso à justiça como garantia dos Direitos sociais, econômicos e culturais. Estudo dos padrões fixados pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Observações preliminares da visita in loco da CIDH ao Brasil. 2018
CRENSHAW, Kimberlé Williams. Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color.
DAVIS, Angela, 1944-Mulheres, raça e classe [recurso eletrônico] / Angela Davis; tradução Heci Regina Candiani. – 1. ed. – São Paulo: Boitempo, 2016.
Flávia Piovesan, “Ius Constitutionale Commune en América Latina: Context, Challenges and Perspectives”. In: Armin von Bogdandy, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Mariela Morales Antoniazzi and Flávia Piovesan (ed), Transformative Constitutionalism in Latin America: the emergence of a New Ius Commune”, Oxford, Oxford University Press, 2017.
Flavia Piovesan, Mariela Morales Antoniazzi e Julia Cortez da Cunha Cruz. “The Protection of Social Rights in the Inter-American Commission of Human Rights.” In: Armin von Bogdandy, Flavia Piovesan, Mariela Morales Antoniazzi (coord.). Constitucionalismo Transformador, Inclusão e Direitos Sociais. JusPodivm, 2019.
GELEDÉS. A história da escravidão negra no Brasil. 2012.
MACHADO, Antônio Alberto. Ensino Jurídico e Mudança Social. São Paulo: Atlas, 2009. Mapa da Violência 2015 (Flacso, Opas-OMS, ONU Mulheres, SPM/2015. Ag. Patrícia Galvão).
PIMENTEL, Silvia. PANDJIARJIAN, Valéria. Percepções das Mulheres em relação ao Direito e a Justiça, Legislação, Acesso e Funcionamento. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1996 Relatório Acessing Justice: Models, strategies and best practices on women´s empowerment. IDLO (International Development Law Organization), 2013.
Report Making the Law Work for Everyone, Vol 1 – Report of the Commission on Legal Empowerment of the Poor p.3, 2008.
Report Making the Law Work for Everyone, Vol 2 – Report of the Commission on Legal Empowerment of the Poor.
RIBEIRO, Djamila. international journal on human rights – Dec/2016.
SADEK, Maria Tereza Aina. Acesso à justiça: um direito e seus obstáculos. Dossiê Justiça Brasileira, São Paulo, nº 101, março/abril/maio 2014.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Poderá o direito ser emancipatório? Revista Crítica de Ciências Sociais, São Paulo, nº 65, p. 07, maio 2003.
SEN, Amartya; A ideia de justiça / Amartya Sem; tradução Denise Bottmann, Ricardo Doninelli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
SOUKI, Nadia. O pensar e o senso comum. Hannah Arendt e a banalidade do mal, 1a reimp. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.
Para se aprofundar, recomendamos: