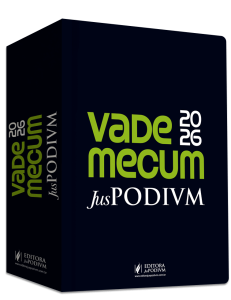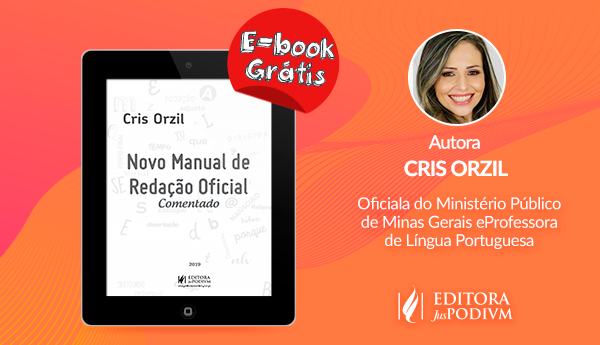Qual a natureza jurídica da medida protetiva de urgência? A vigência da MPU depende da existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo civil ou criminal? Elas podem ser deferidas para o caso de a conduta ser criminalmente atípica? A MPU pode ter prazo predeterminado de duração? A extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito ou absolvição do acusado extingue automaticamente a medida protetiva? A MPU deve ser revisada periodicamente? E reexaminadas? Quem pode solicitar a revogação da MPU e qual o procedimento do pedido? No caso de extinção da MPU, a vítima deve ser comunicada?
Todos esses importantes questionamentos foram abordados pela Terceira Seção do STJ, no REsp 2070717 (Recurso Especial representativo de controvérsia, Tema repetitivo 1249, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, rel. p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz).
A decisão ocorreu em 13/11/2024 e a publicação do acórdão é de 25/03/2025.[1] Após o voto-vista antecipado parcialmente divergente do Min. Rogerio Schietti Cruz, dando provimento ao recurso especial e do voto-vista antecipado da Ministra Daniela Teixeira, acompanhando a divergência, a Terceira Seção, por maioria, deu provimento ao recurso especial, vencidos os Ministros Joel Ilan Paciornik (Relator) e Messod Azulay Neto.
Consta da ementa:
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA. CONTEÚDO SATISFATIVO. VIGÊNCIA DA MEDIDA NÃO SE SUBORDINA À EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PREDETERMINADO. DURAÇÃO SUBORDINADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO PROVIDO.
Na mesma ocasião foram fixadas as seguintes e importantes teses quanto ao Tema Repetitivo 1.249:
I- As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.
II- A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;
III- Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.
IV- Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.
As teses fixadas e suas decorrências representam um grande avanço na assistência, garantia de direitos e proteção da mulher vítima de violência, bem como na prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar. É delas que nos ocuparemos na sequencia:
1. Natureza jurídica das medidas protetivas de urgência
De acordo com o STJ, a medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória (Tese I), “porquanto tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal” (item 8).
E citando a lição de Luiz Guilherme Marinoni o STJ esclarece que “a tutela inibitória é voltada a impedir a prática de ato contrário ao direito, assim como a sua repetição, ou ainda, continuação”.[2]
A decorrência principal da decisão acima é a de que ficaram afastadas todas as orientações que viam a medida protetiva de urgência como de natureza criminal. Essas interpretações geravam uma tendência restritiva no deferimento das medidas protetivas de urgência, porque impediam a concessão da proteção sem registro de ocorrência policial, para violências sem exata correspondência com tipos penais e com arquivamento de inquérito policial ou ação penal (temas que desenvolveremos adiante). Essa interpretação está alinhada com a diretriz originária da Lei Maria da Penha, que não disciplinou essas medidas como cautelares (dependentes de um processo principal), e sim como protetivas de urgência, ou seja, uma tutela autônoma de direitos fundamentais.
2. A vigência da MPU independe da existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo civil ou criminal
Ainda na Tese I foi fixado o entendimento de que a vigência da medida protetiva “não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.”
Tal entendimento está em consonância com o previsto no § 5º, do art. 19 da Lei Maria da Penha (Incluído pela Lei nº 14.550, de 2023), cuja redação é a seguinte:
Art. 19. […]
§ 5º. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente […] do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.
Desde a edição da LMP, as medidas protetivas de urgência foram perspectivadas não como medidas cautelares, acessórias de processos (cíveis ou criminais), mas como medidas independentes. Na versão original do Projeto que ensejou a edição da LMP, utilizava-se a expressão “medidas cautelares”, mas essa expressão foi substituída por “medidas protetivas de urgência” exatamente para desconectar o novo instituto de qualquer caráter acessório de um processo principal[3]. Há que se lembrar que MPU não protege processos e sim pessoas[4]. O direito à proteção é independente de eventual colaboração com a persecução penal, pois deriva do direito fundamental a uma vida livre de todas as formas de violência (Convenção de Belém do Pará, art. 3º).
3. Fixação da medida protetiva em casos de condutas atípicas
Para o STJ, para a concessao da medida protetiva não é “necessária a realização de um dano, tampouco a prática de uma conduta criminalizada” (item 8).
No mesmo sentido é a previsão contida na Lei Maria da Penha, ao estabelecer no § 5º, do art. 19 da Lei Maria da Penha (Incluído pela Lei 14.550, de 2023), cuja redação, cujo trecho se transcreve, é a seguinte:
Art. 19. […]
§ 5º. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência […].
De se observar que a Lei Maria da Penha, ao elencar, exemplificativamente, tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em seu art. 7º, relaciona condutas que podem não possuir um correspondente criminal exato, ou seja, condutas atípicas, reforçando o entendimento de que, desde a sua concepção, buscou não criar uma associação entre violência e infração penal. Ou seja, independentemente de discussões sobre a tipicidade da conduta, o direito à proteção deriva diretamente das disposições constitucionais e tratados internacionais ratificados pelo Estado brasileiro.
4. A extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito ou absolvição do acusado não extingue automaticamente a medida protetiva
Um dos temas que mais gerou controversas no momento do julgamento na Terceira Seção girou em torno de se estabelecer os efeitos da extinção da punibilidade, do arquivamento do inquérito e mesmo da absolvição do acusado em relação às medidas protetivas.[5]
No Voto-vista do Ministro Schietti, ao tratar do tema, primeiramente houve o esclarecimento de que o legislador não subordinou a existência das medidas protetivas de urgência “à existência de um procedimento principal, tampouco correlacionou sua duração ao resultado do processo penal.” (item IV – Prazo de vigência das medidas protetivas de urgência – duração da situação de risco). Exatamente por conta disso, “eventual arquivamento do inquérito policial, absolvição do acusado ou reconhecimento de causa de extinção de punibilidade não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco.”
Apesar de o acórdão não ter discutido o tema, excepcionamos uma situação: a de o arquivamento do inquérito policial ou a absolvição criminal terem ocorrido pelo reconhecimento categórico de que os fatos não ocorreram (uma afirmação de certeza e não de insuficiência de provas). Isso porque o art. 66 do CPP estabelece que “Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato”. O arquivamento ou absolvição por insuficiência de provas não geram esse efeito, ao contrário, se não há certeza de que a mulher está protegida, in dubio pro tutela.
A análise da situação de risco, portanto, é que deve ser levada em conta no momento de decisão acerca da manutenção ou revogação da medida protetiva. Tema a ser trazido no próximo item.
5. Prazo das medidas protetivas de urgência
De acordo com o que ficou fixado na Tese I, “a duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado”.
Como bem esclareceu o Ministro Schietti, em seu voto-vista, “apesar do caráter provisório inerente às medidas protetivas de urgência, não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado” (item 11).
E ainda: as medidas protetivas, “como espécie de tutela inibitória, têm caráter provisório, e como tal, devem vigorar enquanto subsistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima.”
Para reforçar tal entendimento, é citado o §6º do art. 19 da Lei Maria da Penha, incluído pela Lei 14.055/2023, o qual estabelece que “as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir riscoà integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”.”
O STJ conclui tal tema afirmando que “a medida produzirá efeitos enquanto existir o risco que fundamentou a decisão judicial.”
Este aspecto da decisão é muito importante, pois havia a praxe forense de se deferir a medida protetiva de urgência por prazo pré-determinado, o que significava que, expirado o prazo, havia a revogação automática da proteção e eventual prorrogação exigiria nova decisão e intimação. Não é possível saber no momento da decisão quando haverá a cessação de risco e não é lícito presumir que haverá cessação do risco após um prazo determinado.
Considerando que as medidas protetivas não possuem prazo predeterminado de duração, resta saber se elas podem ser revistas periodicamente e/ou reexaminadas. Esse é o tema que será tratado no próximo item.
6. Distinção entre revisão periódica e reexame das medidas protetivas de urgência.
De acordo com a Tese IV, as medidas protetivas “não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco.”
No seu voto-vista, o Ministro Schietti afasta a ideia de revisão periódica por entender que “o que não é adequado, e muito menos conforme ao desejo de proteção e acolhimento da mulher vítima de violência em razão do gênero, é dela exigir um reforço periódico de seu desejo de manter-se sob a proteção de uma MPU.” E prossegue: “a renovação de sua iniciativa – dirigir-se ao Fórum ou à Delegacia de Polícia para insistir, a cada 3 ou 6 meses, na manutenção da medida protetiva – implicaria uma revitimização e, consequentemente, uma violência institucional que precisa ser coibida” (item 13).
O fato de a decisão afirmar que as medidas protetivas não se submetem a prazo obrigatório de revisão não significa que o juízo não possa estabelecer uma rotina cartorária para reavaliar de ofício a necessidade de manter a medida. A decisão deixa claro que não é a vítima quem tem o ônus de requerer reiteradamente a proteção, é o sistema de justiça que deve se organizar para manter a proteção enquanto ela for necessária.
Nada impede, entretanto, que a medida venha a ser revogada posteriormente. Contudo, a decisão já sinaliza que prazos curtos de reavaliação de ofício, como três ou seis meses, podem se tornar uma fonte de revitimização, ao constantemente “importunar” a vítima com o ônus processual de reafirmar sua necessidade de proteção. Com fundamento em pesquisa que avaliou o prazo médio de risco para escalada de episódios de violência doméstica para feminicídios[6], entendemos que o prazo inicial de um ano é razoável para que o juiz eventualmente reavalie quanto à continuidade da situação de risco.
7. Quem pode requerer a revogação da medida protetiva?
De acordo com o fixado na Tese IV, as medidas protetivas “devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco”.
A iniciativa, quando não reavaliada de ofício, portanto, “deve partir de quem esteja sob o compromisso de abster-se de algum ato que possa turbar a tranquilidade ou segurança da ofendida” (item 14).
Dessa forma, “a fim de se evitar a perenização das medidas, a pessoa interessada, quando entender não mais ser pertinente a tutela inibitória, poderá provocar o juízo de origem a se manifestar e este, ouvindo a vítima, decidirá acerca da manutenção ou extinção da medida protetiva” (item 12).
Aqui cabe o mesmo comentário acima: pedidos reiterados de reavaliação das medidas, em curto período de tempo, não devem ser aceitos, por configurarem revitimização.
Além da hipótese indicada no acórdão de solicitação de revogação das medidas pelo requerido, obviamente, a própria mulher poderá solicitar a revogação da medida.
O STJ ainda tratou de alguns pontos acerca do procedimento de pedido de revogação da medida protetiva, conforme se verá no próximo item.
8. Como se dá a revogação da medida protetiva de urgência?
Também ficou decidido que, havendo pedido de revogação, a vítima “será ouvida antes de uma decisão judicial” (item 14).
O procedimento, portanto, é bastante simplificado: pessoa interessada faz o pedido de revogação da medida protetiva, apresentando sua motivação; a vítima é ouvida; colhe-se a manifestação do Ministério Público e ocorre a decisão do/a magistrado/a por manter, revogar ou, eventualmente, substituir a medida protetiva por outra. Sempre, claro, de acordo com a verificação da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito.
O parâmetro legal para revogar uma medida protetiva é o mesmo para o seu indeferimento: a constatação da cessação do risco (art. 19, § 4º); se não há certeza de que o risco cessou, o princípio da precaução determina a manutenção da medida. Se necessário, o magistrado poderá solicitar um estudo psicossocial antes de deterinar a revogação da medida protetiva.Vale registrar que, estando o requerido devidamente intimado da concessão da medida protetiva, a sua eventual não localização para intimação da manutenção da medida não descaracteriza o crime de descumprimento da medida (art. 24-A da lei), pois havia uma inicial intimação válida.
9. Comunicação à vítima da revogação da MPU
Além de ser ouvida quando do pedido de revogação da medida protetiva, na hipótese de sua extinção, “a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006” (item 12), que assim prevê:
Art. 21. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público.
Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor.
É de suma importância que a vítima tenha conhecimento imediato da revogação da medida protetiva, a fim de que avaliando a situação possa, eventualmente, tomar as providências que entender necessárias para seu resguardo, como, por exemplo, mudança de seu endereço, comunicação aos familiares, amigos e colegas de trabalho acerca da possibilidade de o agressor voltar a frequentar lugares que lhe estavam proibidos etc. Além da eventual interposição de recurso, se discordar da decisão de revogação.
10. Fundamentação doutrinária
O voto-vista do Min. Schietti trouxe, como fundamentação, as seguintes doutrinas nacionais:
– ÁVILA, Thiago Pierobom de. Medidas protetivas da Lei Maria da Penha: natureza jurídica e parâmetros decisórios. Revista Brasileira de Ciências Criminais, RBCCRIM, São Paulo, v. 157, jul. 2019.
– BIANCHINI, Alice; ÁVILA, Thiago Pierobom de. Lei n. 14.550/2023: uma interpretação autêntica quanto ao dever estatal de proteção às mulheres. 2023. Disponível em: https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2023/04/20/lein14-450-2023-
uma-intepretacao-autentica-quanto-ao-dever-estatal-de-proteçâo-as-mulheres>.
– BORGES, Izabella; LEARDINI, Flávia; GANZAROLLI, Marina. STJ discute a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência. 2024. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2024-set-04/stj-discute-a-natureza-juridica-das-medidas-protetivas-de-urgencia/.
– DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.
– DIDIER JUNIOR, F.; BRAGA, P. S.; OLIVEIRA, R. A.. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: Jus Podivm, 2015. 2 v.
– GARCIA, Letícia Giovanini. Mulheres, Política e Direitos Políticos. São Paulo: Almedina, 2023.
– MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de urgência e tutela da evidência: soluções processuais diante do tempo da Justiça. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2017.
– PIRES, Amom Albernaz. A Opção Legislativa pela Política Criminal Extrapenal e a Natureza Jurídica das Medidas Protetivas da Lei Maria da Penha. Brasília: Revista do MPDFT, v.1, n. 5, 2011.
– SANCHEZ, Helen Crystine Corrêa; ZAMBONI, Juliana Klein. A natureza jurídica das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha e suas implicações procedimentais. Atuação: Revista Jurídica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, v. 13, n. 29, p. 1-32, dez. 2018.
Observa-se a preponderância de pesquisadoras e pesquisadores que têm escrito seus trabalhos a partir de uma perspectiva de gênero. Essa abordagem possui fundamentação na teoria dos direitos humanos e na teoria feminista do direito, tendo como pressupostos a necessidade de se reconhecer as desigualdades estruturais nas relações socioculturais de poder entre homens e mulheres, o compromisso do Estado de Direito em não se replicar estereótipos discriminatórios de gênero nos processos judiciais, em especial quanto à absoluta inaceitabilidade de tolerância à violência baseada no gênero, e em se promover acesso à justiça em uma perspectiva substancial, no sentido de se promover a equidade entre mulheres e homens e a reparação integral das mulheres em situação de violência.
11. Precedentes citados na decisão
Foram citados os seguintes trechos das decisões abaixo mencionadas:
1 – STJ, 3ª Seção, AgRg nos EDcl no RHC n. 184.081/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Jr., DJe 10/10/2023: imprescindibilidade da oitiva da ofendida “para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor”;
2 – STJ, 5ª T., CC n. 156.284/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 6/3/2018: “compreender a medida protetiva como tutela inibitória que prestigia a sua finalidade de prevenção de riscos para a mulher, frente à possibilidade de violência doméstica e familiar”;
3 – STJ, 6ª T., HC n. 605.113/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/11/2022: “não há como se esquivar do caráter provisório das medidas protetivas, ainda que essa provisoriedade não signifique, necessariamente, um prazo previamente definido no tempo, até porque se mostra imprescindível que a proteção à vítima perdure enquanto o risco recair sobre ela, de forma que a mudança ou não no estado das coisas é que definirá a duração da providência emergencial”;
4 – STF, 2ª T., AgRg no HC n. 155187, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 16/4/2019: “Vigência alongada das medidas protetivas. Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo.”
A primeira delas (AgRg nos EDcl no RHC n. 184.081/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Jr.) contou com parecer elaborado pelo Consórcio Lei Maria da Penha pelo fim da violência contra as mulheres baseada em gênero (responsável pelos diálogos com a sociedade civil, que subsidiaram o projeto que deu ensejo à Lei Maria da Penha), e representou um grande avanço na sua interpretação, pois, dentre outras coisas, trouxe um consenso entre a 5ª e a 6ª Turma acerca de um tema que dividia não só opiniões dos Ministros que as compõem, como também de tribunais estaduais e de doutrinadores/as.
A segunda decisão (CC n. 156.284/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas) é paradigmática e mostra que desde 2018 o tema referente à natureza da medida protetiva como tutela inibitória já vinha sendo ventilado no STJ.
O caráter de provisioriedade, que não se confunde com a definição de um prazo definido no tempo, é objeto da terceira decisão.
O quarto julgado (AgRg no HC n. 155187, Rel. Ministro Gilmar Mendes) – que tratou da autonomia das medidas protetivas – também é paradigmático e seu teor consolidou-se com a edição da Lei 14.550/23, que, ao fazer uma interpretação autêntica, determinou que fosse inserido o § 5º ao art. 19, que estabeleceu que “as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.”
12. Documentos mencionados no voto-vista
No voto-vista do Min. Schietti foram citados os seguintes documentos:
– Pesquisa Raio X do feminicídio em SP: é possível evitar a morte;
– Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ 493/23);
– Enunciado 37 do FONAVID;
– Lei 14.550/2023 (que incluiu os §§ 5º e 6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha);
– Carta da XVIII Jornada Lei Maria da Penha (CNJ, 2024):
– Memorial elaborado pelo Associação Me Too Brasil;
– Exposição de motivos que culminou na publicação da Lei Maria da Penha;
– Exposição de motivos do PL n. 1.604/2022, que deu ensejo à Lei 14.550/23 e
– Parecer de lavra do Subprocurador-geral da República, Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino exarado no processo em julgamento.
Vários desses documentos foram elaborados a partir de articulações entre Sistema de Justiça e outras instituições envolvidas com a temática da violência contra a mulher e resultam de qualificados diálogos que incluem a sociedade civil, a academia e as redes de assistência e enfrentamento à violência contra a mulher[7], efetivando a previsão contida na Lei Maria da Penha, em seu art. 8º[8], acerca de como deve ser elaborada a política pública que busca coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
Considerações finais
No início de seu voto-vista, o Min. Schietti contextualiza a história da produção da Lei Maria da Penha, ressalta sua natureza de microssistema, bem como enaltece a sua caracteristica de maximizar a proteção estatal às mulheres vítimas:
“A Lei Maria da Penha foi fruto de uma longa e custosa luta de setores da sociedade civil para que o Estado brasileiro oferecesse às mulheres um conjunto de mecanismos capaz de assegurar a elas, em situações de violência doméstica, efetiva proteção e assistência” (item 1).
“Em verdade – e isso deve ser tomado como uma necessária premissa a nortear qualquer avaliação e interpretação da Lei n. 11.343/2006 – o ingresso dessa lei no ordenamento jurídico resultou na criação de um microssistema dentro do sistema de justiça criminal, cujas características são únicas, em alguns pontos não coincidentes com as categorias e institutos usualmente presentes em outras áreas do Direito” (item 2).
“Daí por que se deve extrair o máximo possível de extensão semântica às medidas protetivas de urgência, como medida inovadora na legislação brasileira, idônea e necessária para maximizar a proteção estatal às mulheres vítimas de algum tipo de violência doméstica, mas que também ultrapassa a esfera do Direito Penal e avança no desejado equilíbrio nas relações de gênero em nossa sociedade” (item 3).
Entender o processo de construção da Lei Maria da Penha contribuiu para uma melhor atuação quando se trata de lhe dar eficácia e contornos. E, nesse ponto, a decisão que hora se analisa andou muito bem, ao traduzir e dar guarida aos anseios, angústias e desejos de proteção de uma camada bastante significativa da nossa sociedade: as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.
Agora, resta ao sistema de justiça e a todos envolvidos na prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher incorporar os ditames trazidos na decisão, a fim de que a Lei Maria da Penha, considerada uma das três mais avançadas do mundo, possa cumprir o seu objetivo de assistência, proteção e garantia dos direitos das vítimas de violência doméstica e familiar e de prevenção e enfrentamento das violências praticadas contra as mulheres.
[1] Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?b=ACOR&livre=202301572040.REG.%20E%2025/03/2025.FONT. Acesso em 19abr2025.
[2] Tutela de urgência e tutela da evidência: soluções processuais diante do tempo da Justiça. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2017.
[3] CALAZANS, Myllena; CORTES, Iáris. O processo de criação, aprovação e implementação da Lei Maria da Penha. In: CAMPOS, Carmen Hein de (Org.). Lei Maria da Penha comentada em uma perspectiva jurídico-feminista. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 39-64. Disponível em: https://themis.org.br/wp-content/uploads/2015/04/LMP-comentada-perspectiva-juridico-feminista.pdf
[4] LIMA, Fausto Rodrigues de. Da atuação do Ministério Público – artigos 25 e 26. In: CAMPOS, Carmen Hein de (Org.). Lei Maria da Penha comentada em uma perspectiva jurídico-feminista. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 327-336.
[5] Confira a sessão de julgamento em: https://www.youtube.com/watch?v=E1_ZKp-T374. Acesso em 28.abr.2025.
[6] ÁVILA, Thiago Pierobom de; MAGALHÃES, Thais Quezado Soares. Itinerários processuais anteriores ao feminicídio: os limites da prevenção terciária. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, n. 187, p. 355-395, 2022. Disponível em: https://www.academia.edu/69245566
[7] Para ver mais sobre o assunto, consultar: Bianchini, Alice. Teoria Feminista do Direito, seus Métodos e a Importância da Perspectiva de Gênero no Campo Jurídico. Revista ESMAT. 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/375047025_TEORIA_FEMINISTA_DO_DIREITO_SEUS_METODOS_E_A_IMPORTANCIA_DA_PERSPECTIVA_DE_GENERO_NO_CAMPO_JURIDICO
[8] Art. 8º A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo por diretrizes:
I – a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação;
II – a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas;
III – o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar […];
IV – a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher;
V – a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres;
VI – a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não-governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher;
VII – a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia;
VIII – a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia;
IX – o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher.