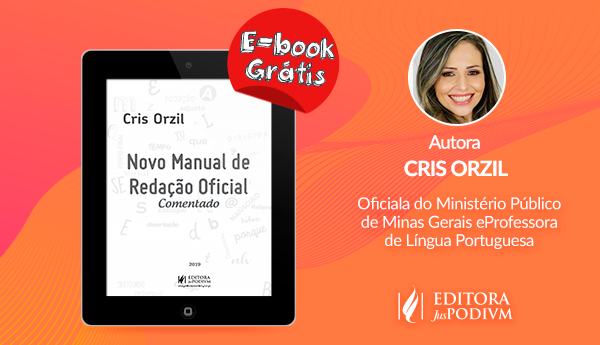No último dia 12 de março do corrente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar liminar requerida na ADPF 779, reconheceu a inconstitucionalidade da polêmica tese da legítima defesa da honra no crime de feminicídio.
Em apertada síntese, para a Corte Maior, a tese da legítima defesa da honra em crimes dessa natureza, ainda que alegada indiretamente, viola não somente a nossa Bíblia Política, mas também preceitos humanitários fundamentais (levando-se, inclusive, em conta o plexo de diplomas internacionais ratificados pelo Brasil), notadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, da defesa da vida e, obviamente, da igualdade de gêneros.
Analisando o percurso histórico, constata-se que este argumento, sempre polêmico, é (ou foi) protagonista constante no cenário jurídico-cultural brasileiro, desde as Ordenações.
Vale destacar que o caso mais antigo documentado no Brasil, palco para a ventilada tese, ocorreu no ano de 1873. O seu desfecho, curiosamente, surpreendeu, subvertendo a lógica preponderante na época: embora rico, desembargador, estimado na sociedade, Pontes Visgueiro, que assassinou uma prostituta por querer dela fidelidade, alegou legítima defesa da honra, mas acabou condenado à prisão perpétua (então vigente).
Para muitos, esta tese acabou ganhando fundamento legal no antigo Código de 1890, mais precisamente no art. 27, §4º, que anunciava não serem criminosos os que acharem-se em estado de completa privação dos sentidos e de inteligência no momento do ato do crime.
A malfazeja tese pode ser lida em Otelo, simbólico personagem de Shakespeare que, suspeitando de traição, asfixiou Desdêmona até a morte. Cena, aliás, que foi muito explorada nos tribunais do Brasil, e que, de fato, encontrou respaldo por longo tempo entre os jurados que integram os nossos conselhos de sentença. Era comum naqueles julgamentos a defesa demonizar a vítima, principalmente se mulher, para fazer aflorar nos juízes leigos o “espírito machista”.
Caso emblemático no nosso país foi, sem sombra de dúvidas, o assassinato de Ângela DinizA história do assassinato passional de Ângela Diniz, conhecida também como a “Pantera de Minas”, rendeu livro, A defesa tem a palavra — O caso Doca Street e algumas lembranças, do próprio advogado Evandro Lins e Silva. pelo namorado, Doca Street, morta com quatro tiros no rosto no dia 30 de dezembro de 1976, em Búzios. A argumentação da legítima defesa da honra foi utilizada pelo criminalista Evandro Lins e Silva em favor do acusado. Se não foi suficiente para assegurar sua impunidade, garantiu ao réu uma pena branda, saindo do plenário do júri em liberdade. Na ocasião, militantes feministas picharam muros com o bordão histórico: quem ama não mata.
Porém, o que se tem visto, hoje em dia, é o uso indiscriminado da legítima defesa da honra, buscando justificar – e banalizar – atitudes violentas dos homens contra as mulheres.
Com efeito, esse esdrúxulo culto à honra masculina não se coaduna com a realidade jurídica, com a cultura e (re)significação do Brasil do século XXI. Sua referência e uso parecem fazer parte de um passado longínquo, em clara dissintonia com os arranjos feitos pelas relações de gênero atuais. Carlos Alberto DóriaDÓRIA, Carlos Alberto. "A tradição honrada: a honra como tema de cultura e na sociedade ibero-americana". Cadernos Pagu, Campinas: Unicamp, n. 2, p. 47-111, 1994., em seu artigo intitulado A tradição honrada: a honra como tema de cultura e na sociedade ibero-americana, aponta para esse fato quando expõe que:
“A sociologia brasileira oscilou entre a desconsideração do tema e sua ‘folclorização’ ao tomar a honra como um aspecto pitoresco da sociedade (…), sem perceber que ali se manifestava um traço fundamental da cultura ibérica da qual somos herdeiros”.
De fato, diante da cada vez mais intensa atuação internacional brasileira ratificando diplomas de direitos humanos, bem como anseio interno de seus cidadãos, a tese da legitima defesa da honra merece ser rechaçada.
A limitação argumentativa imposta pelo Supremo Tribunal na ADPF em comento deve ser, obviamente, observada por todos os atores (e não só pela defesa): juiz, desembargadores, ministros, promotores e procuradores de Justiça, assistente de acusação ou advogado estão proibidos de sustentar, em qualquer fase da persecução penal, direta ou indiretamente, a legítima defesa da honra como forma de justificar a violência de gênero contra a mulher.
E se qualquer das partes insistir na tese, mesmo diante da proibição vinda da Corte Suprema? Parece-nos que deve ser desconsiderada, desentranhando-se dos autos qualquer referência à (pseudo)descriminante.
A pergunta, contudo, ganha contornos mais instigantes se a insistência ocorrer no plenário do júri, perante os jurados. Diante desse cenário, deve o juiz dissolver o Conselho de Sentença? Essa postura garante que no novo julgamento o defensor da tese, que pode ser o mesmo, vai sucumbir seu entendimento e estratégia? Cabe, nesse cenário, a atuação dos órgãos correcionais? Ou a solução passa por uma simples anotação em ata, materializando o uso indevido da ventilada tese, acrescida do alerta do juiz aos jurados para que desconsiderem o argumento indigno? Nesse caso, qual a certeza de que os jurados, juízes leigos (e não raras vezes contrariados), não considerarão a defesa da honra no momento de responder o quesito genérico da absolvição? Lembrando que julgam de acordo com a sua íntima convicção.
Para evitar dúvidas (e decisões sem significado certo), desde 2008, sustentamosCUNHA, Rogério Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Código de Processe Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos. Ed. Juspodivm. 2020, p. 1433 que o quesito genérico (“o jurado absolve o réu?”) deve ser acompanhado, ainda que de forma bem simples, das teses absolutórias usadas em plenário.
Quando uma só tese defensiva foi sustentada, não há maiores questionamentos. Uma vez afirmativa a resposta da maioria, está encerrado o julgamento com absolvição do acusado (sem nenhuma dúvida sobre a tese acolhida pelos jurados). Nesse caso não pairam controvérsias sobre as consequências jurídicas, extraídas a partir da simples análise da tese defendida: o Ministério Público poderá, se o caso, interpor apelação quando convencido de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos.
O mesmo não ocorre, no entanto, se em favor do réu são sustentadas duas ou mais teses em plenário (não raras vezes colidentes). Se o defensor invoca a legítima defesa e a dirimente da inexigibilidade de conduta diversa, por exemplo, saber se a absolvição se deu por força da primeira tese (legítima defesa) ou em virtude da segunda (obediência hierárquica) é de suma importância: qual será a base recursal da parte sucumbente? Ora, feita a pergunta por meio de um único questionamento (“O jurado absolve o acusado”?), fica o Ministério Público sem saber qual o alcance da decisão do Conselho de Sentença.
Como resolver esse problema?
Destacamos, inicialmente, a patente falta de técnica do legislador ao introduzir a obrigatoriedade de apenas um quesito relativo à absolvição. E o propósito da reforma de 2008, quando o quesito nasceu no nosso diploma adjetivo, sem dúvida, foi o de submeter todas as teses da defesa a este único quesito, pois, do contrário, a lei não o teria imposto, mas, como faz a respeito de outras teses debatidas, estabeleceria a formulação de quesitos específicos conforme a natureza dos argumentos aventados em plenário (como, aliás, fazia a lei revogada).
Ocorre que esta imposição é absolutamente despropositada, ignorando por completo os fundamentos do júri. Efetivamente, a votação é sigilosa, mas não seu resultado. O jurado vota de acordo com a sua íntima convicção, o que não significa omitir seu entendimento. A razão que o levou a decidir assim ou assado não importa, mas saber como decidiu importa (e muito).
A nova sistemática, portanto, não prestigia, como deveria, o princípio do contraditório, pois, como já destacamos, se o órgão acusatório não tem ciência da tese de absolvição consagrada, como poderá interpor recurso? Não se pode olvidar, na mesma esteira, a clara ofensa ao princípio da paridade de armas, vez que à acusação é imposto um óbice processual, desprovido de qualquer fundamento técnico, ao qual a defesa passará imune.
Há quem sustente, nesta situação de pluralidade de teses defensivas, a necessidade de que a acusação, caso pretenda recorrer da decisão, ataque, nas razões de insurgência, todas as teses veiculadas em plenário. A sugestão, porém, é despropositada não somente porque, uma vez mais, contraria-se a equidade processual (sobrecarregando-se a acusação), como também porque se mostra de todo ineficaz, já que o tribunal, ao analisar o recurso, também não saberá qual tese merece acolhida e, por óbvio, não poderá dar provimento amparando a todas elas, nem poderá aleatoriamente optar por qual lhe pareça mais adequada. Aqui, aliás, surge outra potencial afronta à Constituição Federal, pois esta indefinição põe em sério risco a soberania do júri.
Não bastasse, há outro aspecto nefasto nessa forma de quesitação das teses defensivas. Resumidas todas numa única indagação, é possível, a depender do número de teses debatidas, que o acusado seja absolvido sem que nenhuma delas tenha sido adotada pela maioria dos jurados. Se o defensor propuser, por exemplo, quatro teses de absolvição, nada impede que 4 dos 7 jurados sintam-se seduzidos, porém cada um por uma tese distinta. Consagra-se a absolvição, em que pese as teses da defesa tenham sido rechaçadas por 6 dos 7 jurados.
Dados os contornos que assumem a imposição deste quesito, parece-nos que, na verdade, o propósito da reforma foi o de introduzir e consagrar a possibilidade de que o Conselho de Sentença possa absolver a qualquer custo, o que se nos afigura de todo absurdo porque equivale a sustentar a possibilidade de que se julgue sem abrigo na prova dos autos.
A nosso ver, como forma de mitigar a clara deficiência da lei e garantir o pleno exercício da função julgadora do tribunal do júri, constitucionalmente assegurada, impõe-se, desde que sustentadas duas ou mais teses defensivas, a individualização dos argumentos de defesa em quesitos próprios, prevalecendo a individualização das teses como forma de levar o Conselho de Sentença a se manifestar sobre cada uma isoladamente (sem desdobramentos outros), permitindo que se saibam as razões da absolvição para que as providências daí decorrentes possam ser adotadas com segurança. Assim, no mesmo exemplo já citado, em que o defensor argumenta sobre a legítima defesa e sobre a obediência hierárquica, possibilita-se ao acusador conhecer as razões da improcedência da acusação para subsidiar eventual peça recursal.
Dessa forma, se o patrono do acusado sustentou em plenário a legítima defesa e a obediência hierárquica, o Conselho de Sentença deverá ser indagado:
a) o jurado absolve o acusado por ter ele, usando moderadamente dos meios necessários, repelindo injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem?
b) o jurado absolve o acusado por ter ele cometido o fato em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico?
Alguns certamente criticarão nossa sugestão em vista da “complexidade” dos quesitos acima (na verdade, mera reprodução de artigos de lei). Não vemos problema na simplificação da sua redação, desde que individualizadas as teses defensivas:
a) o jurado absolve o acusado pela legítima defesa?
b) o jurado absolve o acusado pela obediência hierárquica?
A resposta positiva da maioria num ou noutro sentido absolve o réu. Negados ambos os quesitos que acabam de ser sugeridos, a votação prossegue (porque o acusado não foi absolvido, ao contrário, foi condenado).
Nesse sistema, aventurando-se algumas das partes em alegar legítima defesa da honra, basta o juiz perguntar ao jurado as demais teses absolutórias, descriminantes ou dirimentes eventualmente alegadas, jamais a tese proibida.
A americanização (em verdade, a adoção do sistema inglês, que foi transportado para os EUA) do quesito simplificado pretendido pelo legislador (“O jurado absolve o acusado”?) deve ser bem compreendida. No sistema inglês (ou americano) os jurados se comunicam e buscam em todo momento o consenso (a unanimidade). Tudo pode ser resumido a um só quesito (Guilty or not guilty?) porque em torno de todas as teses expostas pela defesa os jurados promovem o mais aprofundado debate, até se chegar a um consenso. No Brasil vigora a incomunicabilidade dos jurados, de modo que um não pode tentar influenciar o outro a adotar essa ou aquela tese. Daí a imperiosa necessidade de individualização das teses defensivas, em quesitos próprios.
O estudo proposto, repleto de pontos para reflexão, análise e debate, notadamente quanto ao feminicídio, merece uma advertência final: a tese combatida no Supremo se reveste contra os consagrados princípios morais e humanitários e, sendo assim, não pode ser vedada unicamente na morte de mulheres por preconceito quanto ao sexo feminino (cuja estatística é alarmante). Acreditamos na desproporcionalidade da legítima defesa da honra, seja a vítima mulher, homem, criança, adolescente, idoso etc.
Lembremos que a mitologia gregaSTEPHANIDES, Menelaos. “Hércules”, São Paulo: Odysseus, p. 156, 2000. relata que Dejanira tirou a vida de seu amado, Hércules, por sentimento de posse, ciúme: “Um amargo ciúme se alojou no coração de Dejanira. Ela ficou com um medo terrível de que Hércules pudesse desposar Íole, pois esta era mais jovem e mais bonita. (…) Mas o ciúme é mau conselheiro e ele impediu Dejanira de refletir sobre o assunto com sensibilidade e frieza. Em vez disso, sua mente logo abraçou a ideia de usar o sangue do centauro Nesso para não perder o afeto de Hércules”.
Referências bibliográficas
CUNHA, Rogério Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Código de Processe Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos. Ed. Juspodivm. 2020.
DÓRIA, Carlos Alberto. “A tradição honrada: a honra como tema de cultura e na sociedade ibero-americana”. Cadernos Pagu, Campinas: Unicamp, n. 2. 1994.
LINS E SILVA, Evandro. “O salão dos passos perdidos: depoimento so CPDOC”. Editora Nova Fronteira, 1997.
STEPHANIDES, Menelaos. “Hércules”, São Paulo: Odysseus. 2000.