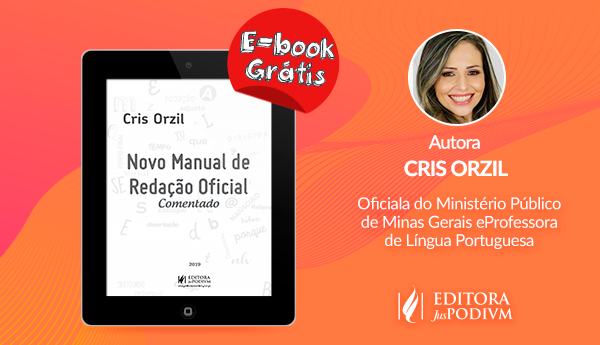INFO 734
REPETITIVOS
– É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB – REsp 1.638.772/SC, julgado em 27/04/2022, Tema 994.
– (i) É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3º, I, “b” da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003). (ii) O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação denominado REPORTO. (iii) O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3º, I, “b” da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. (iv) Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos. (v) O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica – REsp 1.894.741/RS, julgado em 27/04/2022, Tema 1093.
– O marco inicial e o prazo de vigência previstos no parágrafo único do art. 40 da LPI não são aplicáveis às patentes depositadas na forma estipulada pelo art. 229, parágrafo único, dessa mesma lei (patentes mailbox) – REsp 1.869.959/RJ, julgado em 27/04/2022, Tema 1065.
CORTE ESPECIAL
– A liquidação da sentença coletiva, promovida pelo Ministério Público, não tem o condão de interromper o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual de liquidação e execução pelas vítimas e seus sucessores – REsp 1.758.708/MS, julgado em 20/04/2022.
– A falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105 da CF) implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento – EAREsp 1.672.966/MG, julgado em 20/04/2022.
SEGUNDA SEÇÃO
– Segundo nota atualizada do STJ, a síntese referente ao julgado no REsp 1.655.705/SP, anteriormente divulgada no Informativo 734, “sofrerá alterações e posteriormente será publicada em nova edição.”
TERCEIRA SEÇÃO
– É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena – HC 725.534/SP, julgado em 27/04/2022.
PRIMEIRA TURMA
– É válida a recusa pela Polícia Federal de pedido de inscrição em curso de reciclagem para vigilantes profissionais, quando configurada a ausência de idoneidade do indivíduo em razão da prática de delito que envolve o emprego de violência contra a pessoa ou da demonstração de comportamento agressivo incompatível com as funções do cargo – REsp 1.952.439/DF, julgado em 26/04/2022.
– O Poder Judiciário pode determinar, ante injustificável inércia estatal, que o Poder Executivo adote medidas necessárias à concretização de direitos constitucionais dos indígenas – REsp 1.623.873/SE, julgado em 26/04/2022.
– Sob a vigência da Lei n. 4.771/1965, é lícita a queima da palha de cana-de-açúcar em atividades agroindustriais, desde que devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente e com a observância da responsabilidade civil por eventuais danos de qualquer natureza causados ao meio ambiente ou a terceiros – REsp 1.443.290/GO, julgado em 19/04/2022.
SEGUNDA TURMA
– Em ação que pretende o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, é prescindível a inclusão da União no polo passivo da demanda – RMS 68.602/GO, julgado em 26/04/2022.
– A indenização de dano ambiental deve abranger a totalidade dos danos causados, não sendo possível ser decotadas em seu cálculo despesas referentes à atividade empresarial (impostos e outras) – REsp 1.923.855/SC, julgado em 26/04/2022.
– O fato gerador de ITBI é o registro no ofício competente da transmissão da propriedade do imóvel, mesmo no caso de cisão de empresa – AREsp 1.760.009/SP, julgado em 19/04/2022.
– Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função – AgRg no REsp 1.494.279/RS, julgado em 26/04/2022.
TERCEIRA TURMA
– Tem direito ao recebimento de aluguéis a parte que, sem vínculo de parentalidade com a cônjuge supérstite, possuía imóvel em copropriedade com o de cujus – REsp 1.830.080/SP, julgado em 26/04/2022.
– Terceiro ofensor também está sujeito à eficácia transubjetiva das obrigações, haja vista que seu comportamento não pode interferir indevidamente na relação, perturbando o normal desempenho da prestação pelas partes, sob pena de se responsabilizar pelos danos decorrentes de sua conduta – REsp 1.895.272/DF, julgado em 26/04/2022.
– É imprescindível perícia técnica para quantificar dano moral, ante divulgação não autorizada de obra, reconhecido em título executivo em que se determina que seja considerada a repercussão econômica do ilícito – REsp 1.983.290/SP, julgado em 26/04/2022.
– Não é possível considerar válida a citação de pessoa jurídica em seu antigo endereço, cuja mudança fora comunicada à Junta Comercial, mas sem alteração no sítio eletrônico da empresa – REsp 1.976.741/RJ, julgado em 26/04/2022.
QUARTA TURMA
– A concessão da gratuidade de justiça ao microempreendedor individual – MEI e ao empresário individual prescinde de comprovação da hipossuficiência financeira – REsp 1.899.342/SP, julgado em 26/04/2022.
QUINTA TURMA
– A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado – AgRg nos EDcl no RHC 143066/RJ, julgado em 19/04/2022.
SEXTA TURMA
– O reconhecimento da continuidade delitiva não importa na obrigatoriedade de redução da pena definitiva fixada em cúmulo material, porquanto há possibilidade de aumento do delito mais gravoso em até o triplo, nos termos do art. 71, parágrafo único, in fine, do Código Penal – AgRg no HC 301.882/RJ, julgado em 19/04/2022.
– Expressões ofensivas, desrespeitosas e pejorativas proferidas pelo magistrado na sessão de julgamento contra a honra do jurisdicionado que está sendo julgado, podem configurar causa de nulidade absoluta, haja vista que ofendem a garantia constitucional da imparcialidade, que deve, como componente do devido processo legal, ser observada em todo e qualquer julgamento em um sistema acusatório – HC 718.525/PR, julgado em 26/04/2022.
***
INFO 735
PRIMEIRA TURMA
– Promovido o leilão do bem pelo credor hipotecário, a permanência do mutuário no imóvel caracteriza posse de má-fé – AREsp 1.013.333/MG, julgado em 03/05/2022.
SEGUNDA TURMA
– Valores recebidos por servidores públicos por força de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário – AREsp 1.711.065/RJ, julgado em 03/03/2022.
– Os juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos Estados e dos Municípios relativos às verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB podem ser utilizadas para pagamento de honorários advocatícios contratuais – AgInt no REsp 1.880.972/AL, julgado em 19/04/2022.
– No caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhes demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exoneraração da responsabilidade pelos débitos – REsp 1.876.549/RS, julgado em 03/03/2022.
TERCEIRA TURMA
– Pode ser válida a estipulação que confira ao credor a possibilidade de exigir, “tão logo fosse de seu interesse”, a transferência da propriedade de imóvel – REsp 1.990.221/SC, julgado em 03/05/2022.
– O imóvel dado em caução em contrato de locação comercial que pertence a determinada sociedade empresária e é utilizado como moradia por um dos sócios recebe a proteção da impenhorabilidade de bem de família – REsp 1.935.563/SP, julgado em 03/05/2022.
– A solvência dos créditos privilegiados detidos por credores concorrentes (concurso particular) independe de se perquirir acerca da anterioridade da penhora, devendo o rateio do montante constrito ser procedido de forma proporcional ao valor dos créditos (art. 962 do CC) – REsp 1.987.941/SP, julgado em 03/05/2022.
– Produtos agrícolas – soja e milho – não são bens de capital essenciais à atividade empresarial, não incidindo a norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 – REsp 1.991.989/MA, julgado em 03/05/2022.
– Não é cabível extinção da execução pela ausência de juntada das avenças anteriores e subjacentes ao contrato de confissão de dívida – REsp 1.805.898/MS, julgado em 26/04/2022.
QUARTA TURMA
– Não é cabível a devolução de valores recebidos a maior a título de complementação de aposentadoria por força de decisão judicial transitada em julgado, mesmo que ela seja posteriormente desconstituída – AREsp 1.775.987/RJ, julgado em 03/05/2022.
– A ausência de expediente forense no dia de Corpus Christi deve ser comprovada pela parte, no momento da interposição do recurso, por meio de documento idôneo –
AREsp 1.779.552/GO, julgado em 26/04/2022.
QUINTA TURMA
– Configura o crime de corrupção ativa o oferecimento de vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a omitir ou retardar ato de ofício relacionado com o cometimento do crime de posse de drogas para uso próprio – AREsp 2.007.599/RJ, julgado em 03/05/2022.
– A eventual incidência da causa de aumento descrita na parte final do § 4º do art. 1º da Lei de Lavagem de Dinheiro, na redação dada pela Lei n. 12.683/2012, não constitui empecilho para o juiz manter a separação dos feitos, nos termos do art. 80 do CPP – RHC 157.077/SP, julgado em 03/05/2022.
– O histórico prisional conturbado do apenado, somado ao crime praticado com violência ou grave ameaça (uma condição legal do atual art. 83, parágrafo único, do Código Penal), afasta a constatação inequívoca do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional – HC 734.064/SP, julgado em 03/05/2022.
SEXTA TURMA
– Dadas as peculiaridades do caso concreto, admite-se que ao réu primário, condenado à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, seja fixado o regime inicial aberto, ainda que negativada circunstância judicial – REsp 1.970.578/SC, julgado em 03/05/2022.
– Excepcionalmente, presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, a prova pericial torna-se prescindível – AgRg no REsp 1.895.487/DF, julgado em 26/04/2022.
– A escolha pelo Magistrado de medidas cautelares pessoais, em sentido diverso das requeridas pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio – AgRg no HC 626.529/MS, julgado em 26/04/2022.
– A mera alegação genérica de “atitude suspeita” é insuficiente para a licitude da busca pessoal – RHC 158.580/BA, julgado em 19/04/2022.
***
Telegram: https://t.me/pilulasjuridicasSTFSTJ | Instagram: @rodrigocrleite