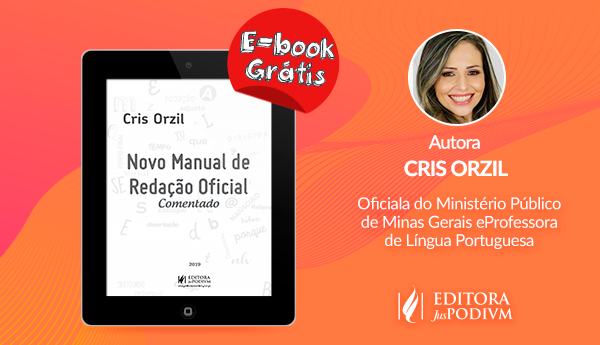É inegável a existência de novas tendências constitucionais na América Latina. A cultura latino-americana e, por conseguinte, o Direito Constitucional que aqui se desenvolve têm traços especiais que os distingue dos demais sistemas. Esse novo modelo é fruto de reivindicações sociais de parcelas historicamente excluídas do processo decisório nesses países, notadamente as populações indígenas.[1]
O denominado Constitucionalismo Latino-americano nasce (do ponto de vista normativo) a partir, sobretudo, das Constituições do Equador de 2008 e da Bolívia de 2009 e se apresenta, para muitos, como uma verdadeira ruptura com as tradicionais bases do constitucionalismo (seja ele clássico ou contemporâneo) de matriz europeia até então vigente.
Esse Constitucionalismo Latino-americano surge no contexto de busca pela promoção de um Estado Plurinacional. Sua fundamentação teórica é a de que os Estados nacionais modernos foram criados a partir da lógica da homogeneização e uniformização, sendo desde a origem Estados que visaram negar a diversidade.[2]
Isso porque, com a predominância de uma lógica colonial e eurocêntrica, foram desenvolvidos mecanismos de normalização e construção de uma suposta “identidade nacional”, com um direito nacional (monismo jurídico), uma moeda nacional, um exército nacional, uma língua nacional, entre outros tipos de anulação da diferença. Há um artificialismo formador de um Estado nacional de padrão europeu, o que acaba, em última análise, por justificar a superioridade de determinadas culturas sobre outras.
Inexistindo mais de um sistema normativo vigorando no mesmo Estado-nação, o monismo jurídico foi o pálio sobre o qual por muito tempo se edificou esse modelo importado, monocultural, excluindo não apenas os povos originários do processo político, mas também mulheres e escravos.
Impulsionados pela ideia de igualdade acriticamente importada da Europa, os Estados latino-americanos desenvolveram as mais variadas políticas “assimilacionistas”, com o fim de “incorporar” os indígenas à nação[3], num desejo integracionista da “sociedade envolvente majoritária”.[4]
Ora, onde há “uniformização de valores”, obrigatoriamente, haverá radical exclusão, em um modelo nada representativo dos grupos “não uniformizados”. Todo esse processo de “culturicídio” de grupos e etnias por meio do modelo homogêneo e uniformizador é questionado pelo novo constitucionalismo da América Latina, numa perspectiva plural de reconhecimento e inclusão do “outro” nos processos de formação da vontade política e distribuição do poder.
Se antes se consagrava um conceito “liberal” de nação, em que há uma identificação e unificação entre esta e o Estado (Estado-nação, com um só povo, uma só língua, uma só cultura), com a “plurinacionalidade” há uma refundação do conceito de Estado, pois o Estado Plurinacional deve congregar e reconhecer diferentes nações em seu seio (grupos sociais heterogêneos que conformam o Estado), numa incessante tentativa de rechaçar o “universal” como uma categoria abstrata.
Trata-se, portanto, de um movimento social, jurídico e político voltado à ressignificação do exercício do poder constituinte, da legitimidade, da participação popular e do próprio conceito de Estado. O Estado do Constitucionalismo Latino-americano é o Estado Plurinacional, que reconhece a pluralidade social e jurídica, respeitando e assegurando os direitos de todas as camadas da população.[5] Em outras palavras: esse novo constitucionalismo consiste em proposta jurídico-política de um Estado Plurinacional que tem como objetivo a criação de um modelo de gestão pública das diferenças e de respeito aos modos de vida dos grupos culturalmente diferenciados que, no modelo colonial, foram excluídos do sistema de tomadas de decisão relativas ao mesmo espaço geográfico e político.
O Constitucionalismo Latino-americano do Estado Plurinacional, por isso mesmo, só pode ser profundamente intercultural, uma vez que ele corresponde à constituição de uma relação igual e respeitosa de distintos povos e culturas, a fim de manter as diferenças legítimas e eliminar (ou ao menos reduzir) as ilegítimas, mantendo uma unidade como garantia da diversidade.[6]
Essa experiência é um sinal de que é possível a convivência respeitosa de diferentes grupos culturalmente diferenciados, seus modos de vida e suas juridicidades num mesmo espaço geográfico e político cada vez mais livre das amarras coloniais ainda presentes na América Latina.
Com o objetivo de descentralizar o poder, estes países, destroem o conceito de “unidade nacional” baseada na homogeneização por meio do reconhecimento da diversidade. Assim, amparam, em verdade, não apenas os povos indígenas, mas também outras minorias, como as comunidades tradicionais afrodescendentes (os quilombolas, no Brasil), concedendo uma cidadania diferenciada por meio de fortalecida representação política multicultural, bases do conceito de Estado Plurinacional.
A Constituição da Bolívia, por exemplo, prevê: a) cota de parlamentares oriundos dos povos indígenas; b) a propriedade exclusiva da terra, recursos hídricos e florestais pelas comunidades indígenas; c) além de estabelecer a equivalência entre a justiça tradicional indígena e a jurisdição ordinária estatal. Ou seja: cada comunidade indígena poderá ter seu próprio Tribunal e suas decisões não poderão ser revisadas pela justiça comum.
A compreensão desses conceitos, contudo, fica mais clara quando se analisa o desenvolvimento histórico do constitucionalismo na América Latina em diálogo com o Direito Internacional dos Direitos Humanos, com enfoque no corpus iuris indígena.
A grande maioria dos autores afirma que até aproximadamente metade do século XX o período foi marcado por um intenso “indigenismo integracionista” que, de forma geral, representa o ideal “assimilacionista” da maior parte dos Estados latino-americanos.
No Brasil, em 1973, foi editada a Lei 6.001, denominada “Estatuto do Índio” que, apesar de mencionar nominalmente a preservação da cultura indígena, possuía o objetivo de integração dos índios na “comunhão nacional” (art. 1º). Buscou-se, assim, impor aquilo que era denominado “integração harmoniosa dos índios”, em verdadeiro processo de assimilação.[7]
O referido estatuto também estabeleceu o “regime tutelar”, que dividiu os índios em superadas categorias conforme o grau de incorporação à comunhão nacional. Os denominados “não integrados” deveriam ser tutelados pela União, por meio da Funai. Esse regime, sem dúvida, não foi recepcionado pela Constituição de 1988, além de colidir com a Convenção 169 da OIT, normativa já internalizada na ordem jurídica pátria (embora sistematicamente ignorada) e com status supralegal.
Analisando as mudanças constitucionais da América Latina sob o prisma do multiculturalismo e do tratamento constitucional dado aos povos originários indígenas, a constitucionalista peruana Raquel Yrigoyen Fajardo estabelece uma cronologia lógica, através de ciclos constitucionais na América, no intuito de superar o “constitucionalismo liberal monista” do século XIX e o “constitucionalismo social integracionista” do século XX.
Segundo a autora, três são os ciclos constitucionalistas contemporâneos em nossa região: a) constitucionalismo multicultural; b) constitucionalismo pluricultural e c) constitucionalismo plurinacional.
A) Primeiro ciclo – ciclo multicultural:
O primeiro ciclo tem como grandes marcos normativos a Constituição do Canadá de 1982 e a do Brasil de 1988. Dentre as suas principais características está o reconhecimento de direitos indígenas individuais e coletivos, como o direito à identidade cultural.
Apesar de avanços conquistados depois de anos de um regime ditatorial militar, a Constituição brasileira de 1988 se encontra apenas e tão somente no primeiro ciclo constitucionalista da América Latina.
No tocante aos povos indígenas originários, o texto constitucional brasileiro, longe de reconhecer uma autonomia jurídica, política e cultural, enfatiza o âmbito meramente protetivo e monojurídico. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são “bens da União” (art. 20, inciso XI). As línguas indígenas não são consideradas oficiais, embora a Constituição autorize e reconheça a sua utilização pelas comunidades indígenas (art. 210, § 2º). Ademais, consagra-se o monismo Jurídico (existe um só Direito, não se reconhecendo oficialmente um “direito indígena” e, tampouco, sua jurisdição).
B) Segundo ciclo – ciclo pluricultural:
O segundo ciclo tem como principal marco normativo a incorporação da Convenção 169 da OIT por diversos países americanos. Este ciclo, também denominado “constitucionalismo pluricultural”, rompe com o monismo jurídico, reconhecendo (e não apenas tutelando) as tradições, os costumes, as autoridades e o direito indígena, com jurisdição autônoma.
Importante conflito entre a Convenção 169 da OIT (art. 14) e a Constituição (art. 20, inciso XI), está no fato de que o tratado internacional proclama os direitos de propriedade e de posse indígena sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Para André de Carvalho Ramos[8], “apesar de, no Brasil, a CF/88 considerar bens da União as terras indígenas, fica evidente que a Convenção é cumprida pela proteção efetiva à permanência e uso, mesmo que o domínio jurídico seja da União.” Em sentido diverso, Valerio Mazzuoli[9] sustenta que “Tem-se, aqui, uma antinomia entre tratados internacionais de direitos humanos e a Constituição, que deve ser resolvida pelos critérios contemporâneos de solução de antinomias, em especial pela aplicação do princípio pro homine.” Isso porque “Todas as normas em vigor no Estado, sejam internas ou internacionais, devem ser interpretadas ‘conforme’ os direitos humanos, sem qualquer exceção.”[10]
C) Terceiro ciclo – ciclo plurinacional:
O terceiro ciclo tem como marcos normativos justamente as Constituições do Equador de 2008 e da Bolívia de 2009. O terceiro ciclo constitucional dá ensejo a um Estado Plurinacional, em que os povos indígenas não são apenas protegidos (como no primeiro ciclo) ou têm sua autonomia reconhecida (como no segundo ciclo). Passa-se a reconhecer não apenas uma jurisdição indígena, mas também nações indígenas coexistindo dentro do mesmo Estado: um novo Estado Plurinacional. As comunidades tradicionais passam a fazer parte da construção do Estado, integrando o poder constituinte originário. Estamos diante de um “constitucionalismo plurinacional”.
Voltado à afirmação do corpus iuris das comunidades tradicionais, pode-se afirmar que a ideia de “um só povo” passa por um processo de desconstrução. Em seu lugar, sedimenta-se, cada vez mais, o conhecimento da multiplicidade de nações dentro de um Estado (indígenas e não indígenas). E o Direito se aproveita para registrar a multiplicidade de ordenamentos emanados dos mais diversos grupos sociais que conformam estas nações, o que é reforçado pela possibilidade de reconhecimento da jurisdição indígena.
NOTAS
[1] FIGUEIREDO, Marcelo. Tendências atuais do constitucionalismo latino americano: existe um “novo constitucionalismo” na região?. Disponível em: <https://emporiododireito.com.br/leitura/tendencias-atuais-do-constitucionalismo-latino-americano-existe-um-novo-constitucionalismo-na-regiao-por-marcelo-figueiredo>. Acesso em: 26 de agosto de 2019.
[2] FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 104.
[3] DA COSTA, Renata Tavares. Observaciones sobre el debido proceso intercultural, p. 3.
[4] RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 862.
[5] ALVES, Marina Vitória. Neoconstitucionalismo e novo constitucionalismo latino-americano: características e distinções, p. 11.
[6] LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 75.
[7] RAMOS, André de Carvalho. Opus citatum, p. 853.
[8] Ibidem, p. 302.
[9] MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 336.
[10] Ibidem, p. 37.